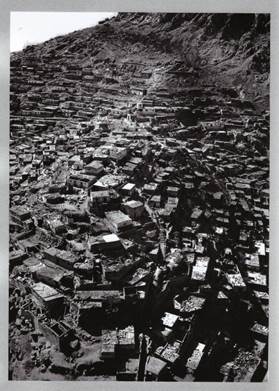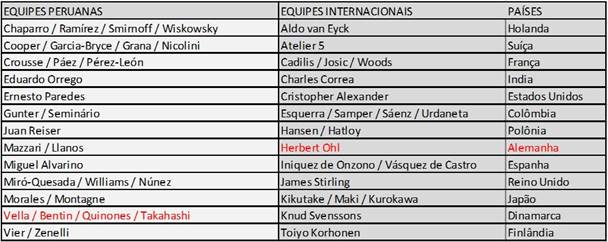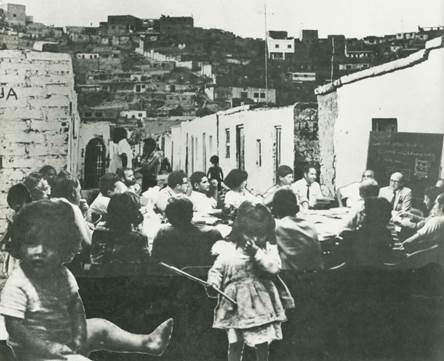Artículos REGISTROS, ISSN 2250-8112, Vol. 20
(1) enero-junio 2024: 25-41
ark:/s22508112/6aj96c7z6
O concurso como campo
fértil para as ideias e as tensões na América Latina
A experiência do PREVI em Lima
The
Competition as a Fertile Field for Ideas and Tensions in Latin America: The
Experience of PREVI in Lima
Guilherme Amorim Cavalcanti
Mariana Fialho Bonates
Wylnna Carlos Lima Vidal
Departamento de Arquitetura e Urbanismo,
Universidade Federal da Paraíba, Brasil
Resumo
A partir da
experiência do concurso internacional do Plano Piloto I (PP1) do Proyecto
Experimental de Vivienda (PREVI), este artigo propõe uma reflexão acerca dos
concursos de projeto como arena para a manifestação de ideias e palco de
tensões no território latino-americano na segunda metade do século XX.
Realizado no final dos anos 1960, o PREVI coloca a América Latina em destaque
internacional, apresentando-se como um condensador dos debates em torno do tema
da habitação social e da realidade de informalidade e autoconstrução em Lima,
Peru. Marcada pelo crescimento desordenado das cidades e, consequentemente
pelos assentamentos espontâneos em forma de barriadas ou favelas, os problemas
urbanos da América Latina eram percebidos pelo olhar estrangeiro como um campo
propício de estudos e experimentação de teorias e ideias, potencializadas no
PREVI pela adoção do concurso como ferramenta. Um conjunto de publicações
recentes denotam um renovado interesse para essa experiência. A abordagem do
intercâmbio local e internacional presente na base do PREVI em paralelo com as
dinâmicas características dos concursos de projeto possibilitou ampliar
reflexões acerca das particularidades e trazer à tona tensões presentes na
relação entre centro e periferia latentes na experiência.
Palavras-chaves: concursos,
PREVI-Lima, América Latina, habitação social
Abstract
Based
on the experience of the international competition for Plano Piloto I (PP1) of
the Proyecto Experimental de Vivienda (PREVI), this article proposes a
reflection on project competitions as an arena for the expression of ideas and
a stage for tensions in Latin American territory in the second half of the 20th
century. Held in the late 1960s, PREVI places Latin America in the
international spotlight, presenting itself as a condenser of debates around the
subject of social housing and the reality of informality and self-construction
in Lima, Peru. Marked by the disorderly growth of cities and, consequently, by
spontaneous settlements in the form of barriadas or favelas, the urban problems
of Latin America were perceived by foreigners as a favorable field for studies
and experimentation of theories and ideas, enhanced in PREVI by the adoption of
the competition as tool. A set of recent publications denote a renewed interest
in this experience. The approach to local and international exchange present in
the PREVI base in parallel with the dynamics characteristic of project
competitions made it possible to expand reflections on the particularities and
bring to light tensions present in the relationship between center and
periphery latent in the experience.
Keywords:
competitions, PREVI-Lima, Latin America, social housing
Introdução
Este trabalho propõe uma reflexão do instrumento dos concursos
de projeto, no qual o caráter aberto e institucionalizado atua como palco para
a manifestação de ideias emergentes e arena de
possíveis tensões. Os concursos de arquitetura se destacam como um mecanismo de
seleção que busca a melhor resposta, ao menos na perspectiva temporal e
espacial do júri, para um conjunto de demandas, de múltiplos interesses, nem
sempre convergentes. Em essência, e na origem da palavra, concurso representa a
reunião de pessoas em um mesmo local ou, nesse caso, em prol de um mesmo
objetivo, sendo uma modalidade de encontro e conflito de ideias, o qual visa
expandir e vislumbrar as possibilidades de resposta para uma mesma demanda (Muñoz, 2005). Nesse sentido,
desloca-se o protagonismo da valoração dos projetos e arquitetos participantes
para a conformação de uma arena propícia ao debate coletivo, em que diferentes
ideias sobre as complexidades dos edifícios e das cidades podem ser representadas
(Muñoz, 2005). Em suma,
pode-se considerar uma competição de soluções projetuais e não necessariamente
de arquitetos.
Aproximando da realidade latino-americana, a modalidade dos
concursos tem papel fundamental no desenvolvimento e consolidação do movimento
moderno e, consequentemente, apresentam presença relevante no desenrolar do
século XX (Gonzáles e Fernández, 2012). Um dos exemplos emblemáticos dos
concursos para a busca de soluções na América Latina com a articulação de um
número significativo de arquitetos foi o concurso internacional do Plano Piloto
I (PP1) do Proyecto Experimental de Vivienda, ou PREVI, realizado no
final da década de 1960 e início dos anos 1970 na cidade de Lima, Peru. Além de
sua relevância no cenário local e internacional, destacou-se pelos preceitos
manifestados nas propostas, assim como pelos envolvidos no processo. De acordo
com Carranza e Lara (2015), a singularidade do PREVI se eleva, ainda mais, ao
materializar diferentes perspectivas sobre as questões urbanas, estilísticas e
da moradia, abarcando uma multiplicidade de arquiteturas pós-modernas
emergentes no contexto internacional. Afinal, onde mais podemos encontrar casas
projetadas por Correa, Kurokawa/Maki, Stirling, Candilis/Josic/Woods e Van Eyck
no mesmo lugar? (Carranza e Lara, 2015).
O caráter internacional do concurso, todavia, não se resumiu
apenas aos arquitetos envolvidos, mas também se efetuou por meio de figuras
como Fernando Belaúnde Terry, Eduardo Neira, Peter Land e John Turner. Com o
foco em construir respostas para a crescente demanda habitacional e na melhora
de condições de vida dos assentamentos informais já consolidados, ou barriadas,
o governo peruano, junto à Organização das Nações Unidas (ONU), propôs uma
abordagem na qual o concurso seria uma ferramenta apropriada para a
experimentação de ideias. De acordo com Land
(2008), o concurso foi extraordinário, tendo convidado alguns dos mais
conhecidos arquitetos de renome internacional e que se dedicavam às discussões
sobre o problema da habitação social urbana, que, por sua vez, recebia pouca
atenção da prática dominante naquele momento.
O concurso se desenvolveu em um período marcado pela
experimentação e aplicação das teorias de modernização e de políticas
desenvolvimentistas na América Latina (Gorelik, 2003). Entre as décadas de 1950
e 1970 houve uma eclosão de pensadores, instituições e disciplinas fundamentais
para o desenvolvimento de um “novo mapa intelectual, acadêmico e político do
pensamento social latino-americano, em um de seus episódios mais ricos e
produtivos” (Gorelik, 2003, p.115). É marcante nesse contexto a profusão de ideias
e debates de diferentes ordens, com a coexistência de atores estrangeiros e
locais, por meio de intercâmbios internacionais. De acordo com Gorelik (2003),
o campo de planejamento urbano e regional e as demandas habitacionais foram os
principais objetos a receber um exame sistemático, em dia com as principais
linhas do debate internacional. Ballent (2004) destaca que, apesar da
elaboração de respostas para o problema da moradia
ser uma temática constante do arcabouço moderno, é na América Latina, após os
anos 1950, que se produzem novas abordagens, a partir do cruzamento das
tradições desse campo com os debates políticos e sociológicos acerca do
território, sendo o PREVI um exemplar dessa convergência.
No entanto, após a década de 1960, os modelos de
desenvolvimento aplicado nos países latino-americanos enfrentam maiores
questionamentos no hemisfério norte. As crises globais e locais do período da
Guerra Fria, com disputas geográficas e instabilidade política, também se
encontram presentes no campo da arquitetura, com jovens arquitetos se
articulando para questionar o ideário funcionalista. Em contrapartida, emergem
discussões sobre aspectos psicológicos, sociais, culturais, relacionados à
memória, à qualidade de vida (Lima, 1999). Além desses aspectos, a valorização
das necessidades individuais, da dimensão social da arquitetura e sua conexão
com o lugar possibilitaram a ascensão de uma pluralidade dentro do campo
arquitetônico. A reverberação desses impactos pode ser percebida nas margens,
como, por exemplo, na América Latina, com a diferença de que esse
desenvolvimento ocorreu ali sobre uma tensão entre o estrangeiro e o local,
além de compartilhar, segundo Waisman (2013), as correntes europeias e norte-americanas
do pensamento arquitetônico de modo reelaborado e com atraso.
Enquanto isso, para Lara (2012), o período entre 1960 e 1970
foi marcado por “duas décadas de ostracismo” acerca da presença da produção
latina na mídia internacional, movimento associado à maior atenção e crítica
aos resultados dos projetos de reconstrução na Europa, concomitantemente à
ascensão das ditaduras militares no governo de diversos países da América
Latina. Assim, experiências como a do PREVI, em Lima, ou o Bairro Portales, em
Santiago, não receberam a devida atenção, sendo erroneamente associados às
práticas pós-moderna ou moderna, quando representavam as tentativas locais de
responder ao esgotamento do arcabouço moderno clássico (Lara, 2012). Mas até
que ponto foram, de fato, tentativas locais e atrasadas em relação às
discussões efervescentes no centro? De que maneira as tensões entre local e
internacional se estabeleceram no concurso do PREVI? Quais são as
particularidades desse concurso?
De acordo com Alonso (2015), é por conta do caráter
experimental direcionado a uma problemática comum à realidade global, sobretudo
do território latino-americano, que as propostas do Plano Piloto 1 (PP1) do
PREVI se destacam como um dos mais importantes projetos de habitação. Para Lara
(2018), o experimento peruano adquire significado ainda maior quando pensado o
momento de sua proposição, apenas alguns anos após a publicação dos livros de
Jane Jacobs (1961) e Robert Venturi (1966), fundamentais para mudanças no
pensamento arquitetônico e urbanístico, e colocando em prática as ideias do
Team X que, naquele momento, faziam parte da vanguarda no pensamento sobre o
planejamento urbano e a dimensão social da habitação, de modo que a América
Latina estaria novamente no protagonismo. De acordo com Mateo (2016):
o estudo de caso do PREVI foi uma
das primeiras ocasiões em que o planejamento informal gerou uma resposta do
discurso arquitetônico regular da época, baseado nos preceitos do Modernismo
Tardio e do TEAM X, que influenciou muitos dos arquitetos e urbanistas
envolvidos.
Em suma, práticas como o PREVI
demonstram tanto a força dos debates locais e assimilação das discussões
internacionais, quanto o potencial de experimentação que os concursos
possibilitam. A partir das tensões presentes no contexto latino-americano,
materializadas especialmente nas relações local e internacional, este trabalho propõe
lançar um olhar sobre a experiência do PREVI à luz das características dos
concursos e sua condição enquanto laboratório para o exercício teórico e
prático de ideias, caráter esse que é intrínseco à história da América Latina,
como apontado por Gorelik (2003).
PREVI: o intercâmbio local e internacional na base do
processo
A partir da década de 1940 muitas cidades na América Latina
passam a enfrentar uma intensa explosão urbana devido aos movimentos de
migração interna que se materializa, em grande medida, nos assentamentos
informais (Lima, 1999) (Figura 1). Essa problemática promove o interesse em
programas desenvolvimentistas nos países latinos, através de processos de
ordenação social e habitacional, como nos conjuntos habitacionais que foram
colocados em prática e sob a plataforma de disseminação do vocabulário moderno.
Apesar dessas iniciativas, na primeira metade do século XX, o cenário ainda
apresentava uma forte desigualdade social que, frente à crise da ideologia
moderna, constituiu um espaço para a exploração de novas ideias, locais e
importadas (Lima, 1999).
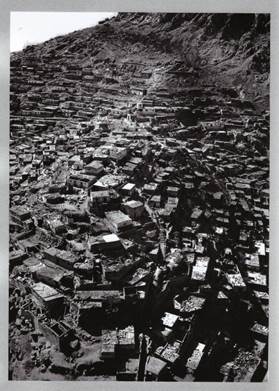
Figura 1. Assentamento informal em Lima, Peru. Acervo da Junta
Nacional de la Vivienda.
Assim como outras cidades da América Latina, a realidade
urbana da cidade de Lima, capital do Peru, apresentava-se como um resultado de
diversos processos físicos e sociais que escalonaram nas primeiras décadas do
século XX, com destaque para a intensificação do processo migratório do campo
para a cidade e, consequentemente, um aumento na demanda por habitações
urbanas, consolidando os assentamentos informais, localmente conhecidos como barriadas.
A perspectiva social desse momento apontava para uma cidade dividida, onde os
assentamentos informais eram percebidos enquanto um problema econômico para o
desenvolvimento, de modo que a cidade planejada e a não-planejada eram
categorias socioculturais mutuamente excludentes.
As propostas governamentais para a resolução dessa
problemática baseavam-se, então, nos modelos internacionais, sobretudo
europeus, de cidade-jardim e dos conjuntos habitacionais de vocabulário
moderno, aqui configurados como blocos lineares verticais, distribuídos em
torno de espaços verdes e equipamentos coletivos em áreas distantes do centro
cívico da cidade (Ballent, 2019). Essa iniciativa foi encabeçada pelo então
membro do congresso, Fernando Belaúnde Terry, e utilizada enquanto principal
solução para a habitação social até a criação do PREVI.
Formado em 1935 pela Universidade do Texas, Belaúnde foi uma
figura central para a disseminação das ideias e práticas modernas no contexto
peruano (Ballent, 2019). Após atuar como profissional no México, retornou ao
Peru e fundou, em 1937, a revista El arquitecto peruano, que se
consolidou como plataforma de divulgação das práticas internacionais, e o Agrupamento
Espacio,1 junto de outros arquitetos. Em 1943 tornou-se
professor da Universidade de Lima, e entre 1945 e 1948 atuou como deputado,
pleiteando em favor da criação de instituições voltadas para a habitação
popular e ao planejamento urbano. Essa atuação contribuiu para sua eleição ao
cargo de presidente do Peru em dois momentos, 1963-68 e 1980-85, períodos
marcados pela sua posição desenvolvimentista (Carranza e Lara, 2015) e
implementando ideias econômicas e políticas que circulavam internacionalmente.
No final da década de 1950 o cenário das barriadas,
enquanto uma “praga” da cidade, começa a ser transformado com estudos mais
aprofundados acerca dessa realidade e a partir de novas perspectivas
fundamentadas na pluralidade local, resultando em interseções com a cidade
tradicional, a cultura local e a periferia popular. O Censo Geral das Barriadas
de 1956 é o primeiro desses movimentos que aproxima a realidade da periferia
através de dados e análises realizadas por profissionais das ciências sociais,
reverberando na formulação de Normas para a Solução dos Problemas das Barriadas
Periféricas em 1958 e a Lei Orgânica de Bairros Periféricos em 1961, que já
antecipavam pontos que fundamentariam a iniciativa do PREVI, como a
autoconstrução e as possibilidades oferecidas pela assistência técnica
(Ballent, 2019).
Convidado pelo arquiteto peruano Eduardo Neira, John Turner,
arquiteto inglês, teve contato com o tema da autoconstrução.2 Ainda
no Peru, onde permaneceu de 1957 até 1965, trabalhou junto ao antropólogo
norte-americano William Mangin3 nas barriadas de Lima, onde
adquiriu a vivência para se consolidar enquanto um excelente comunicador da
realidade peruana “num momento em que a reflexão sobre a construção popular ou
tradicional ganhava lugar como fonte de renovação da arquitetura moderna”
(Ballent, 2019, p. 295). A realidade diversa e autoproduzida dos assentamentos
informais viria a inspirar Turner a escrever sobre essa realidade na revista
inglesa, de circulação internacional, Architectural Design (1963),
questionando as intervenções tradicionais e destacando o caráter das moradias,
a gestão habitacional e a autoconstrução.
A coexistência e o diálogo entre os locais e estrangeiros na
América Latina, marcantes na segunda metade do século XX, como apontado por
Gorelik (2003), e o retorno de diversos profissionais do intercâmbio, segundo
Alonso (2015), mostram-se como peças fundamentais para a mudança de pensamento
e a efervescência de ideias que culminam no convite ao arquiteto britânico e
consultor das Nações Unidas, Peter Land, que articula com o governo peruano,
através do Banco de la Vivienda (Banco da Habitação), as bases para o
desenvolvimento do PREVI (Carranza e Lara, 2015).
O PREVI foi uma iniciativa do
governo peruano sob o comando do presidente e arquiteto, Fernando Belaúnde
Terry, pensado no final da década de 1960 e consolidado nos anos 1970, com o
objetivo de melhorar as condições habitacionais existentes. De acordo
com Ballent (2019), a abordagem sobre as habitações estava fundamentada nas
experiências das barriadas, colocando a casa como uma série de sistemas
que se conectam e se desenvolvem ao longo do tempo, ao invés de um objeto único
e acabado. A iniciativa buscava estabelecer ações,
métodos, modelos e sistemas que pudessem dar respostas embasadas sobre a
realidade local e alinhadas com as novas abordagens acerca do papel da
arquitetura e urbanismo na consolidação das cidades, simbolizando o auge da
mudança acerca dos novos olhares sobre a produção informal do espaço.
Essa experiência começou a ser pensada e discutida em 1966, e
foi aprovada um ano depois pelo congresso, consistindo em um conjunto de ações
com três vertentes para enfrentar as necessidades habitacionais de Lima: o
Plano Piloto 1 (PP1), que utilizaria a ferramenta do concurso para selecionar
propostas de habitações unifamiliares progressivas e econômicas para compor um
novo bairro da cidade; o PP2, alinhado com as práticas de assistência técnica
que estavam se desenvolvendo no país, buscando viabilizar as intervenções nos
âmbitos arquitetônicos e urbanos dos assentamentos já existentes; e o PP3 que
funcionaria como a preparação de áreas desocupadas, com infraestruturas e uma
organização espacial prévia, para o surgimento de novas habitações espontâneas4
(Alonso, 2015).
Peter Land foi fundamental para trazer o apoio da ONU em
setembro de 1968, que, através do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), atuaria enquanto um órgão de mediação com o contexto
internacional no concurso para o PP1, mas, sobretudo, enquanto apoio técnico e
articulador de um mecanismo financeiro que viabilizaria de forma sustentável o
processo (Lara, 2018). Alonso (2015) pontua que esse acordo foi firmado após um
estudo de que as demandas habitacionais presente em Lima eram compartilhadas
por outras nações em desenvolvimento, como diversas cidades da América Latina.
Porém, sendo o território latino-americano marcado pelas
rupturas e descontinuidades,5 a presidência de Fernando Belaúnde
Terry é interrompida por uma intervenção militar em outubro de 1968, com Juan
Velasco Alvarado assumindo a presidência sob um discurso de soberania nacional.
Apesar disso, o PREVI teve continuidade e em 1969 foi lançado o concurso
previsto no PP1.
PREVI: o concurso e o intercâmbio local e internacional na
circulação de ideias
Uma das principais características
dos concursos é a possibilidade de exercitar e colocar em pauta as ideias e os
debates que existem no interior do campo arquitetônico, e que não encontram
espaço para serem amplamente discutidos (Fontes, 2016). Colabora com esse fato
à eliminação da mútua relação entre os proponentes e os arquitetos, exigindo
que as decisões projetuais tenham sua pertinência e adequação às demandas
apontadas pelo edital (Santos, 2019). Para Sobreira (2020) é pela
multiplicidade de abordagens que os concursos de projeto apresentam o potencial
de revelar a gênese das problemáticas ali colocadas, favorecendo oportunidades
de respostas apoiadas sobre diversas visões e posicionamentos, por vezes
ignoradas pelos modelos tradicionais de produção arquitetônica.
Esse processo, mediante uma arena
pública e o rigor metodológico presente na ferramenta é, para Gonzáles e
Fernández (2012), o ponto fundamental para que os arquitetos possam
experimentar novas ideias e possibilidades de projeto. Os concursos são, portanto,
uma oportunidade para a experimentação do arquiteto em circunstâncias reais, de
forma relativamente autônoma das restrições habituais, em que as regras são, ao
mesmo tempo, testadas e desafiadas, permitindo maior ousadia (Fontes, 2016). Em
um cenário marcado pela pluralidade de ideias no campo disciplinar da
arquitetura, como nos anos 1960 e 1970, nada mais apropriado do que um concurso
para oferecer espaço para a manifestação dessas discussões, como foi o PP1 do
PREVI.
Além deste amplo campo de circulação e experimentação de
ideias, os concursos se destacam por serem eventos de natureza democrática que
promovem um palco para as diferentes visões, interesses e posições que o campo
da arquitetura abrange, independente da escala ou finalidade da demanda do
projeto (Sobreira, 2020). Fontes (2016) apresenta três principais variáveis:
quanto ao formato de participação, à escala e ao objetivo de proposição. Quanto
ao formato, os concursos podem ser realizados de forma aberta, que implica em
um maior número de propostas, geralmente submetidas de forma anônima, ou,
então, o formato fechado que pode se realizar através de convites ou de uma
pré-seleção. Em relação à escala, os concursos podem abranger a amplitude
nacional ou internacional de participantes; e, ainda, podem variar se o
objetivo final está na ideia como fomentadora de um debate ou na execução da
proposta. Independente do caminho escolhido pelos promotores é intrínseca à
prática a capacidade de trazer à tona os conflitos latentes das problemáticas
abordadas, de modo que a potencialidade da arquitetura pode se revelar mais nos
processos e no conjunto de obras alcançado, do que nas propostas escolhidas ao
final (Sobreira, 2020).
Resultado de um rico processo, o concurso do PREVI é um
exemplar que abrange várias condições como a escala –nacional e internacional–
e o formato –modalidade anônima e convite–, o que proporcionou uma
multiplicidade de abordagens de projeto, com propostas sintonizadas com as
ideias mais contemporâneas de arquitetura e urbanismo. Que outras condições dos
concursos se manifestaram no PREVI? Quais são as particularidades desse
concurso?
Importa mencionar que os concursos são constituídos pela
articulação de três atores: os promotores, os participantes e o júri –todos
permeados por uma forte interrelação internacional no PREVI. Os promotores ou
clientes, que apresentam a demanda, utilizam-se da ferramenta enquanto uma
possibilidade de construir um debate e vislumbrar uma diversidade de ideias,
ampliando o universo de propostas alinhadas aos seus interesses, e obtendo
destaque na publicização do processo e seus resultados (Fontes, 2016). Para
Alves (2019), a ampliação e diversidade podem atuar como ferramenta de
instrução e capacidade crítica, de modo que a escolha da obra a ser executada
pode ser realizada de forma mais assertiva.
As expectativas ou intenções para o projeto são estabelecidas
e traduzidas na forma de um edital, que é a base do concurso e deve conter o
material e as informações necessárias para o desenvolvimento das propostas, ou
seja, “os critérios de julgamento, normas, pré-requisitos, dados técnicos,
programa, conceito do projeto” (Santos, 2019, p.1). Para autores como Sobreira
(2009) e Alves (2019), o edital é um dos principais instrumentos na proposição
de um concurso, por intermediar a relação entre proponente e arquiteto, sendo
um indicativo das expectativas e desejos sobre os quais os arquitetos devem
formular suas propostas. Consequentemente, o estabelecimento dessas bases
requer um cuidado em apresentar de forma clara e explícita o que se pretende
realizar, mas sem restringir a inovação e criatividade dos concorrentes, visto
tratar de um processo de apresentação e julgamento das ideias (Sobreira, 2009).
No caso do PREVI, o principal objetivo do concurso, segundo
Land, era de lançar bases que refletissem as experiências e a realidade
nacional, bem como a adoção, adaptação e transformação das ideias mais
importantes em habitação coletiva e sistemas de pré-fabricação do mundo
desenvolvido (Kahatt, 2019). Para atender a estes
objetivos foram lançados 6 desafios ou princípios de projeto, quais sejam
(Land, 2008; Kahatt, 2019):
·
Propor um conjunto de alta densidade, baixa altura e tecido
contínuo;
·
Propor as unidades em agrupamentos, formando clusters;
·
Possibilitar unidades com crescimento progressivo, dado,
espacialmente, pelo pátio;
·
Desenvolver o projeto paisagístico;
·
Propor um desenho urbano que priorize a escala do pedestre;
·
Utilizar sistemas construtivos pré-fabricados e materiais
estandardizados a baixo custo.
O concurso foi delineado para a construção de 1.500 unidades
habitacionais, em um terreno de 50ha, situado ao norte da região central de
Lima (Kahatt, 2019). Foi solicitada uma proposta urbana esquemática em que as
unidades habitacionais, organizadas em clusters, deveriam ser conectadas a
equipamentos educativos, sociais e comerciais. As diretrizes do edital
especificavam que os lotes deveriam ter áreas entre 80m2 e 150m2,
e a área construída inicial das casas entre 60m2 e 120m2
para permitir sua expansão em até três pavimentos, com base no módulo de 10
centímetros inicialmente previsto para facilitar a construção e a produção
padronizada (Kahatt, 2019). Também foram solicitados projetos que se
desenvolvessem por etapas, indicando o crescimento progressivo, com exemplos de unidades grandes e pequenas em cada
cluster, para que a maior pudesse oferecer um guia de projeto e construção
sobre possíveis ampliações das unidades iniciais (Land, 2008). Foi demandada,
ainda, uma série de requisitos técnico-construtivos como a colaboração de um
engenheiro de estruturas, com experiência em projetos resistentes a abalos
sísmicos, sistemas construtivos detalhados e com estimativa de custos (Land,
2008).
Desenhada essas condições, entrou em jogo o segundo ator que
compõe os concursos: os participantes ou os concorrentes. Na modalidade
anônima, utilizada na seleção das propostas locais, destaca-se a oportunidade
de alcançar demandas que, em especial para jovens arquitetos dificilmente
seriam alcançadas pelos métodos tradicionais de contratação, tornando o
concurso uma plataforma para se consolidar no mercado ou alcançar
reconhecimento profissional (Fontes, 2016). Para Sobreira e Romero (2017), essa
igualdade de oportunidades se apresenta como a maior qualidade da prática, de
modo que as relações interpessoais não interferem no processo, e o
desenvolvimento de projetos relevantes e coerentes torna-se prioridade.
A etapa PP1 do PREVI, no entanto, foi marcada pela
simultaneidade de dois formatos independentes de concurso, em que na primeira
fase foi realizada uma seleção internacional em que um seleto grupo de 13
arquitetos estrangeiros foram convidados a participar; e um concurso de caráter
nacional, voltado para os peruanos e de modalidade anônima, revelando uma
assimetria de oportunidades e até mesmo uma segregação entre os participantes.
Para reequilibrar as relações entre internacional e local na fase final do concurso,
foram selecionados 13 projetos de arquitetos peruanos. Ao considerar todos
estes requisitos, a intenção do concurso era premiar 3 propostas de cada grupo,
nacional e internacional. Apesar dos dois formatos, ambos os grupos seguiram o
mesmo calendário, regras e conjunto de instruções, que incluíam plantas locais
e regionais, dados geográficos e climáticos, informações espaciais e técnicas,
área padrão para a casa e o projeto urbana, além de diretrizes de orçamento
(Land, 2008).
De acordo com Land (2016), a lista final dos participantes
internacionais tinha como objetivos abarcar os arquitetos que estavam debatendo
os temas de habitação e planejamento daquela época, além de considerar a
experiência e a representação geográfica e política da ONU para consolidar um
grupo de diversas origens. Ressalta-se que Land entrevistou previamente os
arquitetos convidados em 1968 (Kahatt, 2019). A opção pelo convite na seleção
dos arquitetos internacionais denota uma tomada de posição dos proponentes do
PREVI, sinalizando sobre quais abordagens recairiam um maior interesse.
Havia, ainda, a preocupação de que os participantes estivessem
em contato com a realidade em que estariam atuando, de modo que os arquitetos
estrangeiros foram levados para a cidade durante 10 dias, quando estudaram
assentamentos espontâneos, projetos habitacionais existentes do governo,
visitaram famílias que se enquadravam como público-alvo, discutiram questões
financeiras para a execução das obras com o Banco de Habitação e conheceram os
materiais e as capacidades industriais locais da cidade, oferecendo um suporte
comum dos quais as propostas poderiam partir (Land, 2015).
Por fim, o júri atua na intermediação entre os dois atores
anteriores e sobre o qual recai a decisão de interseccionar os interesses dos
promotores, expressos no edital, e as respostas construídas pelos arquitetos
(Fontes, 2016). Designados pelos proponentes para o papel de selecionar as
melhores propostas, a composição do júri é um fator determinante no resultado
final. Na maior parte dos casos, o júri está associado a figuras de relevância
nas temáticas abordadas pelo edital, nos estudos acerca do local onde se
pretende estabelecer a obra ou que apresentem um alinhamento de objetivos com
os proponentes.
No caso do PREVI, o júri para avaliação final das propostas
refletia a dinâmica dos participantes, sendo composto por 9 jurados e 2
assessores, com 6 peruanos e outros 5 jurados internacionais, sendo a maioria
de especialistas no tema da habitação e do planejamento, sendo alguns ligados a
entidades como o governo local e a ONU6 (Alonso, 2015). Segundo Land
(2008), incluía representantes de organizações governamentais peruanas, da ONU,
do PNUD, da União Internacional de Arquitetos (UIA), do Colégio de Arquitetos
do Peru e do diretor do projeto da ONU.
Em agosto de 1969, os jurados se reuniram em Lima e concederam
seis prêmios: três melhores internacionais e três melhores peruanos, como parte
do PP1 do PREVI (Carranza e Lara, 2015). As propostas nacionais premiadas foram
de Elsa Mazzaria, Smirnoff-Ramírez e J. Croune com J. Paez e R. Légon; e as
internacionais foram do Atelier 5 (Suíça), Kiyonori Kikutake, Fumihiko Maki e
Kisho Kurokawa (Japão) e Herbert Ohl (Alemanha). Esse processo, porém, não se
deu de forma unânime, visto que junto à ata de julgamento também se fez
presente a manifestação de 3 jurados que discordavam do reconhecimento pela
proposta alemã, apontando a mesma como de difícil execução e com menores
preocupações com o comportamento e as individualidades dos habitantes, alegando
que a proposta de Christopher Alexander (USA) deveria ser premiada (Alonso,
2015).
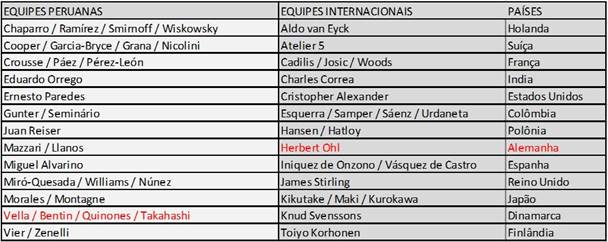
Tabela 1. Arquitetos
participantes do PREVI. Produção autoral.
Apoiado pelo caráter experimental da iniciativa, pela
controvérsia da ata de julgamento e, principalmente, pela qualidade geral de
todas as propostas que fizeram parte da seleção final, por fim, o júri
consensualmente recomendou a construção de uma pequena quantidade de todos os
26 projetos participantes (Land, 2016). Optou-se, então, pela unidad vecinal
experimental, composta por cerca de 500 unidades, cada qual formada por
aproximadamente 20 exemplares de cada uma das propostas articuladas em uma
configuração urbana que funcionaria como um piloto para outras intervenções –em
Lima–, mas também como vitrine para outras cidades na América Latina (Alonso,
2015).
O master plan foi desenhado por Peter Land, mas, segundo
Alonso (2015), os arquitetos peruanos Hugo Handabaka, Miguel Alvarino e Alfredo
Montagne se encarregaram de organizar o conjunto a partir das diferentes
propostas individuais, articulando com equipamentos como a escola, centro
comunitário e espaços públicos, através de circulações internas exclusivas para
pedestres. Para Land (2016) a unidad vecinal experimental apresentava
uma abordagem mais abrangente do ideário funcionalista, ao mesmo tempo em que manifestava
mudanças teóricas que haviam se propagado nos âmbitos dos CIAM no segundo
pós-guerra, tendo como princípios a escala humana e um ambiente orientado para
o pedestre. De acordo com Baumgartner (2016) e Mateo (2016), o resultado final
do bairro, dos espaços comuns e dos playgrounds atuava como elemento de coesão
na colcha de retalhos e aponta para uma contribuição direta da proposta e das
ideias de Aldo van Eyck, membro do Team X e peça fundamental nas discussões
daquele momento sobre habitação e planejamento.
As obras das unidades experimentais se iniciaram em 1971 e
foram finalizadas em 1975, com 467 unidades construídas (Kahatt, 2019). Nesse
intervalo, algumas propostas foram adaptadas para a infraestrutura local e para
uma melhor exequibilidade, tendo uma local sido transformada substancialmente,
enquanto outra, internacional não foi financiada pelo Banco da Habitação e,
portanto, não executada, ambas as operações devido às complexidades técnicas e
aos materiais empregados7.
Ressalta-se que não é objetivo deste trabalho avaliar os
projetos, mas apresentar brevemente algumas soluções, validadas por um júri
qualificado, possibilitando vislumbrar as oportunidades de debates e de tensões
entre novas ideias e sua aplicação na prática oferecidas pelo concurso.
Muitas propostas submetidas ao PREVI possuíam relação com o
Team X, sobretudo as internacionais, seja por meio da participação no concurso
de alguns dos seus integrantes ou arquitetos que tangenciavam o grupo, seja com
debates e conceitos elaborados por aqueles no âmbito dos Congressos
Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM), como a tentativa de incorporar o
social e a ideia de comunidade às questões arquitetônicas, assim como o olhar
para o tecido urbano e seus espaços intersticiais. De acordo com Alonso (2015),
a compreensão da cidade enquanto um tecido composto pela contínua mistura de
atividades e usos, ou seja, como uma composição heterogênea mediada pela ação,
é um dos conceitos urbanísticos mais relevantes do momento do PREVI,
encontrando-se latente em diversas propostas, sobretudo na do holandês, e um
dos principais integrantes do Team X, Aldo van Eyck.8 A sua
participação no PREVI ficou marcada como a manifestação mais incisiva das novas
ideias urbanas propostas no CIAM de 1953, de modo que a trama urbana
apresentava uma continuidade a partir das disposições das quadras residenciais,
com a distribuição dos comércios, áreas comuns e espaços livres de forma
dinâmica, aproveitando-se dos espaços intersticiais.
Nesse contexto, a proposta vencedora do Atelier 5 se destacava
ao restringir o local dos veículos na periferia do conjunto, inserindo as
unidades de costas para elas, enquanto toda parte interna era dotada apenas de
circulação e espaços de convivência voltados para os pedestres, incentivando o
contato humano e, ao menos na intenção, o desenvolvimento de uma comunidade
mais forte.
Já a proposta dos japoneses, Kikutake, Maki e Kurokawa,
utilizou da oportunidade oferecida pelo concurso para manifestar a metáfora
biológica que o movimento metabolista, criado por eles, reverberava e que em
muito se relacionava com o crescimento espontâneo das cidades
latino-americanas, e o caráter progressivo das unidades habitacionais. A
proposta, também vencedora do concurso, apresentou, como em outros casos, a
concentração da atividade pública e comercial, porém se diferenciou ao dispor
isso em um traçado marcado pelas diagonais, estabelecendo um maior equilíbrio e
penetração desse conjunto de espaços comuns na malha residencial,
organizando-se em pequenas quadras de tamanhos e formas diferentes (Alonso,
2015).
Já o grupo de propostas locais torna-se notável uma maior
influência das ideias urbanas consolidadas pelo movimento moderno que, naquele
momento, ainda se encontravam em processo de assimilação no território peruano,
com diversos arquitetos voltando de experiências no exterior e de professores
universitários como o próprio Fernando Belaúnde e Luís Miró-Quesada, mas também
através da circulação das revistas. Apesar disso, havia uma tradução daquelas
ideias a partir de uma perspectiva local (Alonso, 2015). A separação de
funções, a alocação dos usos comuns num eixo central que corta o bairro no
sentido longitudinal e o predomínio de malhas com características mais
ortogonais são apenas alguns dos pontos que aproximam as propostas dos
conceitos modernos, assim como a proposta internacional de Candilis, Josic e
Wood, antigos colaboradores de Le Corbusier.
Sobre a disposição urbana e o sistema de circulações presentes
nas propostas originais, Alonso (2015) destaca que há uma coesão na prioridade
dos pedestres, de modo que a circulação principal de carros estava restrita às
vias da borda e a uma circulação interna de menor fluxo, que subdividia o
bairro e possibilitava acesso aos bolsões de estacionamento. No entanto, ao
lançar um olhar sobre a distribuição das propostas como executado, percebe-se
que os clusters internacionais foram preferencialmente dispostos ao longo das
vias da borda, enquanto a maior parte dos clusters peruanos encontram-se
localizados no centro do conjunto do PP1. Pode-se interpretar essa disposição
como uma tentativa de promover uma maior visibilidade aos projetos
internacionais, conformando uma espécie de vitrine para o conjunto –como
inicialmente planejado para o PREVI (Figura 2). Para Gyger (2013), a reunião
das distintas propostas resultou em uma colcha de retalhos vagamente
estruturada em torno de uma circulação interna central. E mais, nenhum dos
arquitetos foi capaz de concretizar plenamente os seus conceitos urbanos para
os agrupamentos residenciais –uma decisão que comprometeu seriamente a
integridade das propostas (Gyger, 2013).

Figura 2. Distribuição
das propostas internacionais e peruanas. Google Maps (2024)
com edição autoral.
Não apenas as abordagens projetuais se distinguem entre os
grupos peruano e internacional, mas também as percepções entre eles revelam
diferentes olhares em função das suas próprias perspectivas e experiências,
como pode ser interpretado a partir das memórias de dois arquitetos, Charles
Correa (indiano) e Jacques Crousse (peruano).9 Embora ambos sejam
praticamente da mesma geração, apresentam diferenças em relação aos anos de
formação: Correa se formou em 1953 nos Estados Unidos e Crousse se formou
primeiro em engenharia (1963) e depois como urbanista (1972) no Peru.
Enquanto Correa expressa nostalgia e uma percepção mais
positiva da experiência do PREVI, Crousse reconhece a oportunidade da
experiência para os arquitetos peruanos, porém identifica os impactos negativos
da mudança política na etapa de execução dos projetos, finalizando o relato com
um sentimento amargo (Crousse citado em Garcia-Huidobro; Torriti, Tugas, 2008).
Em tom apologético, Correa se dedica a enfatizar a pluralidade
de ideias que circulavam naqueles anos, ressaltando a importância do princípio
da baixa altura e alta densidade (BAAD) nas habitações coletivas de baixa
renda. Expressa, ainda, que o projeto PREVI foi sincronizado para servir de
modelo, não só no Peru, mas em todos os países da América do Sul e também na
África e na Ásia (Correa, citado em Garcia-Huidobro; Torriti, Tugas, 2008).
Já Crousse valoriza o potencial do concurso como um teste para
os sistemas de pré-fabricação que deveriam
demonstrar sua validade para uma média de 20 residências por projeto, porém
também demostra que a forma como o concurso foi executado não logrou o êxito
esperado (citado em Garcia-Huidobro; Torriti, Tugas, 2008). Para o peruano os
sistemas construtivos não puderam ser adequadamente desenvolvidos, avaliados,
nem industrializados, em função da reduzida dimensão de cada agrupamento. Além
disso, os usuários não tiveram a devida assistência na ampliação de suas
moradias. Enfim, finaliza com a afirmação de que o PREVI teria perdido seu
valor inovador, tornando-se para ele um suporte caro para o morador e uma
grande oportunidade perdida para os arquitetos da sua geração (Crousse,
citado em Garcia-Huidobro; Torriti, Tugas, 2008).
Ao analisar os diferentes discursos, percebe-se que os olhares
dos dois arquitetos continuam revelando significativas diferenças sobre a
finalidade do PREVI: enquanto o estrangeiro avaliou como uma experiência a ser
replicada em países em desenvolvimento, seguindo o modelo de circulação de
ideias do centro para a periferia; o arquiteto peruano considerou o potencial
de experimentar e replicar diferentes técnicas construtivas em qualquer
território.
A diversidade característica da realidade latino-americana,
atestada por Gorelik (2003), tem no PREVI um exemplar notável que condensa
tanto o movimento de atuação estrangeira e de arquitetos locais retornando para
seu país de origem, quanto os debates ideológicos sobre a região, apresentando
possibilidades de soluções para um problema comum aos países vizinhos. De
acordo com Land (2016), a contribuição mais importante do experimento foi a
inserção e a materialização de respostas para algumas questões contemporâneas
da disciplina de arquitetura, como a articulação de projeto, planejamento e
tecnologia de construção para um ambiente residencial construído sustentável.
Esse caráter experimental e internacional do concurso atraiu a mídia
arquitetônica, de modo que em abril de 1970 o resultado da iniciativa recebeu
um artigo na Architectural Design que o destacava enquanto um importante
evento no campo das políticas e da arquitetura de moradias no segundo
pós-guerra (Ballent, 2019) (Figura 3).
O artigo da AD abria a publicação
com uma imagem condensadora, uma fotomontagem que sobrepunha uma reunião dos
participantes do concurso internacional com a barriada El Agustina, retirada de
uma obra de Turner. A imagem mostra bem o modo como o PREVI era pensado pela
imprensa arquitetônica norte-americana, como uma operação de montagem cultural:
sobreposição de centro e periferia, de instituições internacionais e governos
locais, de saberes elevados e cultura popular. Nessa representação, o centro
encarregava-se dos problemas da periferia, mas apesar das ideias de Turner, ao
mesmo tempo a dominava. (Ballent, 2019, p. 296)
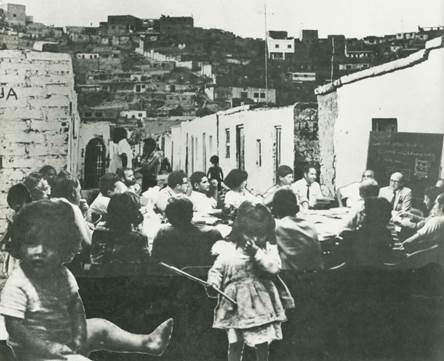
Figura 3. Colagem
utilizada no artigo da Architectural Design. Acervo digital da revista Architectural
Design.
Uma colagem de atores e ideias na construção de uma cidade
colagem que os habitantes completaram a nível construtivo e programático,
dotando o bairro de uma maior complexidade funcional. Tratou-se de um desenho
urbano aberto, a fundação de uma cidade inconclusa prevista para ser
completada, como concluiu García-Huidobro, Torriti, Tugas
(2010).
Considerações finais
A discussão empreendida neste trabalho possibilitou refletir
acerca da realidade latino-americana na segunda metade do século XX, a partir
do PP1 do PREVI, que gerou um campo de experimentação de ideias, mas não isento
de tensões. Esse caráter da experimentação se manifestou sobretudo em função da
escolha da ferramenta do concurso, possibilitando uma ampliação
das soluções projetuais.
O concurso do PP1 do PREVI se
particulariza, ao constituir-se tanto em uma competição de soluções quanto de
arquitetos, na medida em que foi editado com dois formatos, diferente da
etapa nacional, os participantes internacionais foram selecionados e chamados
através de convite gerando uma tensão no
perfil democrático da prática. Estes convites podem indicar a abordagem
esperada pelos proponentes, que adotaram o território latino-americano como
laboratório de experimentação de ideias discutidas no centro. No entanto, ainda
que a proposta idealizada estivesse associada a uma tentativa de modernizar o
planejamento urbano e as ações habitacionais no Peru, a iniciativa pode ser
interpretada sobre a perspectiva do “divergir”, segundo o conceito de Waisman
(2013), uma vez que a opção por um tecido urbano de baixa altura e alta
densidade, composto por habitações unifamiliares com previsão de crescimento
progressivo estava mais relacionado com o aspecto cultural e o modo de vida
local, contrapondo-se aos edifícios multifamiliares e verticais para habitação
social da realidade europeia –adotados em Lima em décadas anteriores– e a baixa
densidade presente nos subúrbios norte-americanos.
As tensões também se manifestam nas diferentes propostas,
expressas entre os grupos internacionais e locais. Enquanto os primeiros, mais
articulados com os debates de revisão do movimento moderno, pareciam estar mais
sensíveis às circunstâncias locais, muitas das propostas dos arquitetos
peruanos ainda estavam sob o forte impacto dos ideais modernos. Nesse sentido,
o PREVI revela uma sincronia de debates europeus no território latino-americano
e um forte intercâmbio cultural e internacional entre todos os atores
envolvidos no processo, desde os proponentes, até os participantes e o júri.
Independentemente dos formatos e da escala do concurso,
tratou-se de um rico processo, em face ao particular encaminhamento do júri
para a execução das 26 propostas. O resultado final
construído contribuiu para uma abordagem mais ampla e heterogênea, com
uma "vitrine" de soluções e ideias em circulação no contexto
internacional, mas ao mesmo tempo atentas às demandas locais, conferindo ao
exemplo um caráter ainda mais relevante. Apesar disso, ao observar a
implantação dos projetos no conjunto executado, transparece a manutenção de uma
dinâmica de centro e periferia, ainda que fisicamente as posições estejam
invertidas.
Destaca-se que, após mais de 30 anos
desta experiência, diferenças sintomáticas emergem nas memórias de dois
arquitetos participantes: o olhar estrangeiro, mais distante, destaca a
iniciativa como modelo a ser replicado em outros territórios em
desenvolvimento, enquanto o olhar peruano ressalta que apesar das oportunidades
de experimentação técnica, os desdobramentos, marcados por uma série de
conflitos e problemas, comprometeram o potencial da iniciativa
(García-Huidobro, Torriti, Tugas, 2010). O lapso temporal evidenciou, ainda,
que a intenção da apropriação declarada no edital
logrou grandes modificações nos projetos originais tornando-os irreconhecíveis
e borrando as fronteiras entre as propostas locais e internacionais no
contexto atual.
Esse conjunto de tensões fazem do PREVI um exemplar próprio da
América Latina, em que os debates e as figuras internacionais se encontram com
as demandas e ideias dos arquitetos latino-americanos, para abordar um problema
emergente do século XX, contribuindo, assim, com a expansão do mapa intelectual
como colocado por Gorelik (2003). O concurso como ferramenta de reunião para
diferentes soluções, mas premiando apenas uma única proposta, descarta
potenciais ideias que poderiam contribuir para a demanda do edital. Nesse
contexto, a experiência do PREVI suscita várias reflexões sobre a possível
flexibilidade para os concursos de habitação social, dada a diversidade de
contextos, problemáticas e composições familiares envolvidas.
Apesar disso, as mudanças políticas que impactaram na condução
do PREVI possivelmente contribuíram para sua pouca reverberação. Como afirmam
Carranza e Lara (2015), ainda na década de 1970 percebe-se o desaparecimento
dessa experiência nas publicações de arquitetura. É possível que as expansões
dos projetos sem o devido acompanhamento técnico como previsto inicialmente
também tenham eclipsado o PREVI ao longo do tempo. Por outro lado, há um
renovado interesse expresso em uma série de publicações em um momento marcado
por um giro à esquerda no governo de diversos países latino-americanos, com a
retomada de políticas públicas de desenvolvimento e bem-estar social criando
condições para a construção de um “novo” “mapa intelectual” preocupado em lançar
olhares decoloniais sobre a América Latina.
Notas
1 Destacam-se também Luís Miró-Quesada, autor do
livro Espacio en tempo, no qual reflete acerca dos conceitos iniciais do
movimento moderno e sua relação com o cenário peruano, e Eduardo Neira Alva que
estava interessado nas realidades das barriadas e nas possibilidades da
assistência técnica.
2 Eduardo Neira se encontrou com Turner em um
encontro internacional de arquitetos em 1950 em Veneza, quando o convidou para
integrar o escritório de assistência técnica às urbanizações populares em
Arequipa.
3 Diretor do programa de ajuda Peace Corps na
época, e responsável pela expressão “barriada como solução”.
4 Após um terremoto ter atingido a região em 1970,
instituiu-se também o PP4, que compartilhava pontos com o PP3, mas possuía um
foco sobre construções sismo resistentes.
5 Waisman (2013) afirma que o território
latino-americano é marcado pelas descontinuidades, sejam de mudanças de direção
ou ruptura, constituindo um obstáculo para a exploração e aplicação das ideias
na América Latina. Por este motivo, segundo Gorelik (2003), a defasagem entre
projeto e realidade decorrente desse processo torna esse território um exemplo
do embate entre representações e acontecimentos.
6 O júri foi composto por: Eduardo Barclay (Peru),
José Antonio Coderch (Espanha), Halldor Gunnlogson (Dinamarca), Carl Koch
(EUA), Peter Land (ONU), Ricardo Malachowski (Peru), Alfredo Perez (Peru),
Manuel Valega (Peru), Ernest Weissman (EUA), Darío Gonzalez (Peru) e Alvaro
Ortega.
7 A proposta transformada foi da equipe local
(Takahashi, Vella, Bentin, Quinones) e a não executada foi a proposta alemã, de
Herbert Ohl, que já havia causado controvérsia (Land, 2015).
8 No período em que foi convidado para participar do
concurso, o arquiteto havia finalizado obras relevantes da sua carreira como o
Orfanato Municipal de Amsterdã (1960), com um reconhecimento internacional cada
vez maior.
9 Os relatos constam na seção Experiencias em
Garcia-Huidobro, Torriti, Tugas (2008).
Referências
Alonso, P. L. (2015). El concurso del
tiempo: las viviendas progresivas del PREVI-Lima [Tese de doutorado,
Universidad Politécnica de Madrid]. https://doi.org/10.20868/UPM.thesis.40345
Alves, R. C. S. (2019). Concursos de Arquitetura como
Espaços Promotores de Liberdade Criativa [Dissertação de mestrado,
Universidade do Porto]. https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/125333
Ballent, A. (2004). Learning from Lima. Previ,
Peru: habitat popular, vivienda masiva y debate arquitectónico. Ceac-UTDT.
Ballent, A. (2019). Hora zero: olhares, ações e projetos
numa cidade transbordada. Em A. Gorelik, F. A. Peixoto (Orgs.), Cidades sul-americanas
como arenas culturais (pp. 283-298). Sesc. São Paulo.
Carranza, L. E., & Lara, F. L.
(2015). Modern architecture in Latin America: art, technology, and utopia.
University of Texas Press.
Fontes, D. N. S. R. (2016). Devemos competir? - O
concurso em arquitectura [Dissertação de mestrado, Universidade do Porto]. https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/90702
García-Huidobro, F., Torriti, D. T. y
Tugas, N. (2008). ¡El Tiempo Construye!: El proyecto experimental de
vivienda (PREVI) de Lima: Genésis Y Desenlace (1ª ed.). Gustavo Gili.
García-Huidobro, F., Torres Torriti, D. y
Tugas, N. (2010). PREVI Lima y la experiencia del tiempo. Revista
Iberoamericana de Urbanismo. (3), 10-19.
https://raco.cat/index.php/RIURB/article/view/267890
González, L. A. y Fernández, F. J. M. (2012). Aprendiendo
de los concursos. La investigación en arquitectura. Proyecto, progreso,
arquitectura, (3), 16-33.
Gorelik, A. (2005). A produção da "cidade
latino-americana". Tempo Social, 17(1), 111-133.
https://doi.org/10.1590/S0103-20702005000100005
Gyger, H. (2013) The Informal as a
Project: Self-Help Housing in Peru, 1954–1986. [Tese de Doutorado,
Columbia University]. https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D8DJ5NQF
Kahatt, S. S. (2019). Utopias Construídas:
Las Unidades Vecinales de Lima (1ª ed.). Pontíficia Universidad Católica
del Perú, Fondo Editorial.
Land, P. (2008). El Proyecto Experimental
de Vivienda (PREV) de Lima: antecedentes e ideas. Em García-Huidobro, F.;
Torres Torriti, D. y Tugas, N. (Orgs.). ¡El tiempo construye! Time Builds!
El Proyecto Experimental de Vivienda (PREVI) de Lima: génesis y desenlace (pp.10-25).
Editorial Gustavo Gili SL.
Land, P. (2015). The Experimental
Housing Project (PREVI), Lima Design and Technology in a New Neighborhood. El
proyecto experimental de vivienda (PREVI), Lima. Diseño y tecnología en un
barrio nuevo. Universidad de Los Andes em Bogotá.
Land, P. (2016). Experimental Nature. [Entrevistador:
Tomeu Ramis]. Transfer-arch. https://www.transfer-arch.com/reference/previ-lima-1969/
Lara, F. L. (2012) Cartografias imprecisas: mapeando
arquiteturas contemporâneas na América Latina. Vitruvius -
Arquitextos, ano, 13.
Lara, F. L. (2018). Reconciling Design
and Construction: Lessons from the Americas. AULA Architecture and Urbanism
in Las Americas, (7), 24-31.
Lima, A. G. G. (2013). Arquitetas
e Arquiteturas na América Latina do Século XX. Altamira.
Lima, A. G. G. (2021). Nas fronteiras da civilização:
Como se criarão os novos cânones da arquitetura. In R. V. Zein (Org.), Revisões
historiográficas. Arquitetura moderna no Brasil (1ª ed.). Rio
Books.
Mateo, J. L. (2016). PREVI Experience.
Transfer-arch. https://www.transfer-arch.com/reference/previ-lima-1969/
Muñoz, M. D. (2005). El concurso de arquitectura como
búsqueda de coherencia entre realidad constructiva y posición teórica: una
reflexión desde la historia. Arquitecturas del Sur, 23(31),
58–62. https://revistas.ubiobio.cl/index.php/AS/article/view/880
Santos, S. M. (2019). Instituto Moreira Salles/SP: o
concurso, o processo e a caixa [Dissertação de mestrado não publicada].
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Paraíba.
Sobreira, F. J. A. (2020). As regras do Jogo: sobre a
dinâmica dos concursos de arquitetura. Revista Projetar - Projeto e
Percepção do Ambiente, 5(2), 68-83.
https://doi.org/10.21680/2448-296X.2020v5n2ID19693
Sobreira, F. J. A. (2009). Concursos de Projeto e
Conflitos de Interesse na Gestão do Espaço Público. Em IV Projetar. São Paulo.
Sobreira, F. J. A., e Romero, M. (2017). Concursos de
Habitação Social em Brasília: reflexões sobre projeto, inclusão e
sustentabilidade. Em 4 CIHEL – Congresso Internacional de Habitação no
Espaço Lusófono – A Cidade Habitada.
Waisman, M. (2013). O interior da história:
historiografia arquitetônica para uso de latino-americanos. (Trad. Anita Di
Marco). Perspectiva.
.
Guilherme Amorim Cavalcanti
Possui graduação
no Curso de Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
em 2022. Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo
(PPGAU) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Laboratório de Pesquisa
Projeto e Memória. Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Universidade
Federal da Paraíba. Campus I Lot. Cidade Universitaria, PB, 58051-900, Brasil.
guilhermeacav@gmail.com
https://orcid.org/0009-0000-1600-109X
Mariana Fialho Bonates
Possui graduação
no Curso de Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
em 2004, mestrado pelo Programa de Pósgraduação em Arquitetura e Urbanismo pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGAUUFRN) em 2007, doutorado pelo
Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de
Pernambuco (MDU-UFPE) em 2016, com bolsa sanduíche da CAPES na School of Design
da University of Pennsylvania entre 2013 e 2014. Atualmente é Professora
Associada do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da
Paraíba (UFPB) e professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em
Arquitetura e Urbanismo (PPGAU) da mesma instituição. Laboratório de Estudos
sobre Cidade, Cultura e Urbanidade. Departamento de Arquitetura e Urbanismo.
Universidade Federal da Paraíba. Campus I Lot. Cidade Universitaria, PB,
58051-900, Brasil.
mariana.bonates@academico.ufpb.br
https://orcid.org/0000-0001-9693-4614
Wylnna Carlos Lima Vidal
Possui graduação
no Curso de Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
em 1996, mestrado pelo Programa de Pós-graduação em Engenharia Urbana pela
Universidade Federal da Paraíba (PPGEU-UFPB) em 2004, doutorado pelo Programa
de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Paraíba
(PPGAU-UFPB) em 2019. Atualmente é Professora Adjunta do curso de Arquitetura e
Urbanismo, Pesquisadora do Laboratório de Pesquisa Projeto e Memória, LPPM/UFPB
e professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e
Urbanismo (PPGAU) da mesma instituição. Laboratório de Pesquisa Projeto e
Memória. Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal da
Paraíba. Campus I Lot. Cidade Universitaria, PB, 58051-900, Brasil.
wylnna.vidal@academico.ufpb.br
https://orcid.org/0000-0001-5014-1301