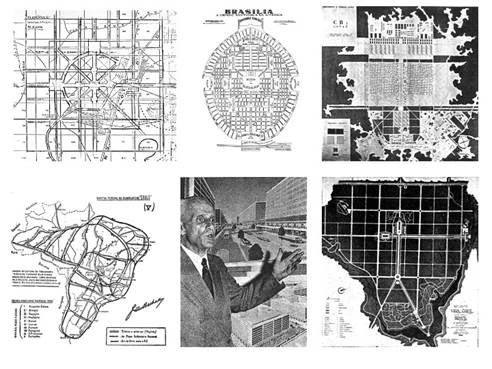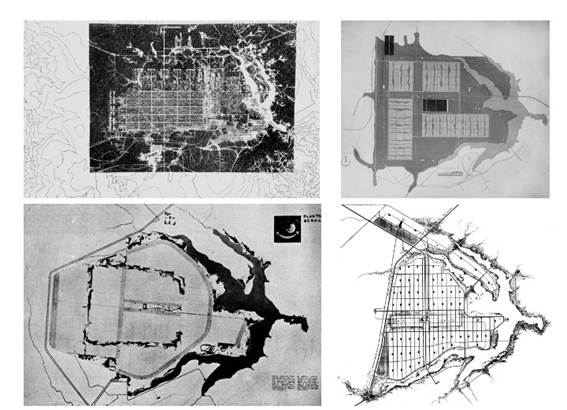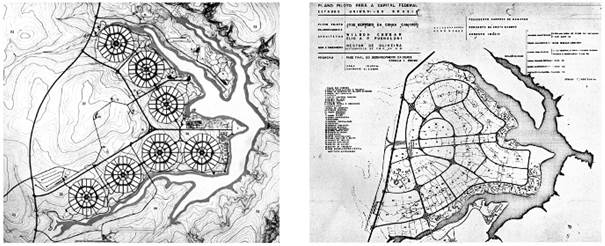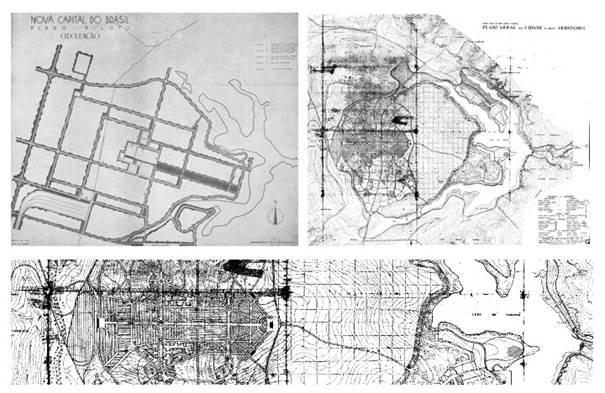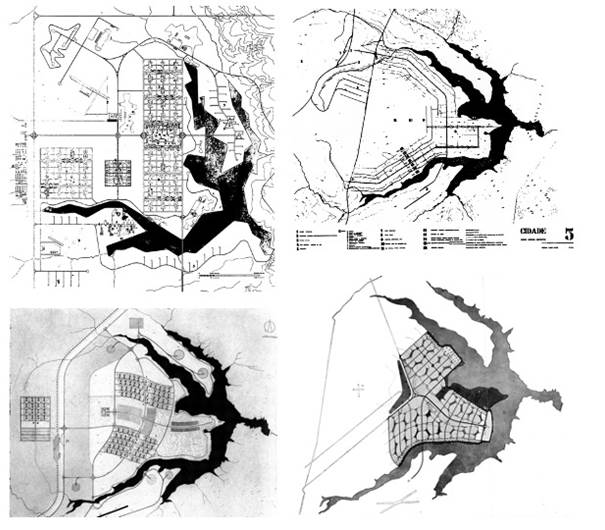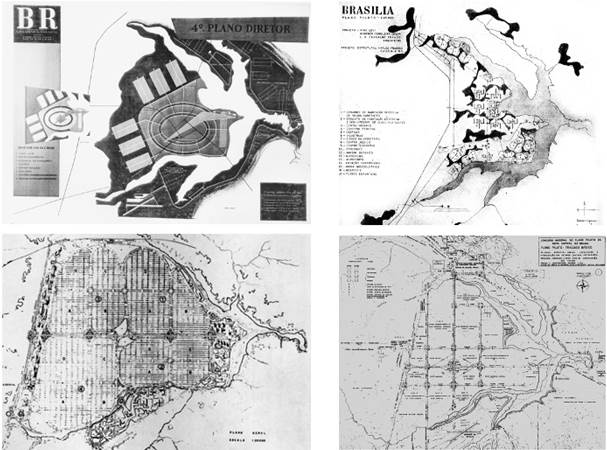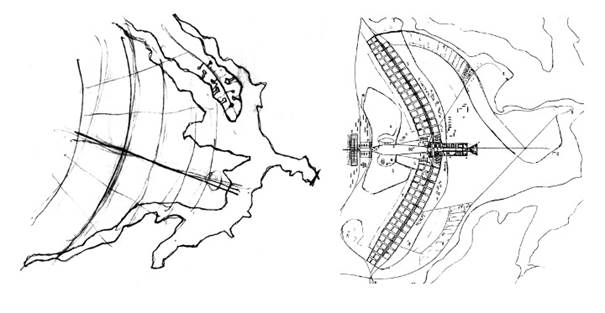Artículos REGISTROS, ISSN 2250-8112, Vol. 20
(1) enero-junio 2024: 63-86
ark:/s22508112/tjag8yryz
Concurso para o Plano
Piloto de Brasília, 1927-1957: projetos dialéticos
Competition
for the Brasilia Master Plan, 1927-1957: Dialectical Urban Design
Jeferson Tavares
Instituto de Arquitetura e Urbanismo,
Universidade de São Paulo, Brasil
Resumo
O objetivo é
discutir a contribuição dos planos pilotos de Brasília, derivados do concurso
de 1957, para a cultura urbanística brasileira à luz do projeto nacional de
desenvolvimento. O argumento central é de que os 32 projetos elaborados entre
1927 e 1957 para a nova capital federal brasileira sintetizam a diversidade do
repertório arquitetônico e urbanístico a partir do diálogo entre formas e
expressões contraditórias e controversas, mas capazes de serem sintetizadas por
um traço comum constituinte da formação da identidade nacional. Com a
finalidade de demonstrar esse argumento, o texto apoia-se no conceito de
dialética de Antonio Candido e nos marcos teóricos do urbanismo estrangeiro e
nacional, do século XVIII ao século XX. Metodologicamente, as análises foram
elaboradas a partir de fontes primárias e pela revisão crítica e
historiográfica das interpretações hegemônicas e das leituras contemporâneas.
Como discussão, apresenta os elementos que estruturam o conjunto das propostas
baseados na análise estética e técnica dos 25 projetos recuperados. E como
conclusão, retoma o argumento inicial buscando comprovar o aspecto dialético
desses projetos, tendo na proposta de Lúcio Costa uma forte evidência do que se
propaga na consolidação de uma cidade e de um símbolo nacional.
Palavras-chave: Brasília,
concurso, plano piloto, projetos dialéticos
Abstract
The
goal is to discuss the contribution of Brasília's master plans, derived from
the 1957 competition, to Brazilian urban culture in the light of the national
development project. The central argument is that the 32 projects created
between 1927 and 1957 for the new Brazilian federal capital synthesize the
diversity of the architectural and urban planning repertoire based on the
dialogue between contradictory and controversial forms and expressions, but
capable of being synthesized by a common feature of the formation of national
identity. In order to demonstrate this argument, the text is based on Antonio
Candido's concept of dialectics and the theoretical frameworks of foreign and
national urbanism, from the 18th to the 20th century. Methodologically, the
analyzes were prepared from primary sources and through the critical and
historiographical review of hegemonic and of contemporary interpretations. As a
discussion, it presents the elements that structure the set of proposals based
on the aesthetic and technical analysis of the 25 projects recovered. And as a
conclusion, it returns to the initial argument seeking to prove the dialectical
aspect of these projects, with Lúcio Costa's proposal providing strong evidence
of what propagates in the consolidation of a city and a national symbol.
Keywords: Brasília,
competition, master plan, dialectical urban design
Introdução
O Concurso Nacional do Plano
Piloto da Nova Capital do Brasil foi realizado no início da segunda metade do
século XX (entre setembro de 1956 e março de 1957, no Rio de Janeiro-RJ) e foi
representativo de dois principais movimentos: da consolidação de um amplo
repertório técnico e estético até então em construção no ideário arquitetônico
e urbanístico brasileiro; e da enorme reverberação de soluções, conhecimentos e
ideias nas décadas posteriores ao longo da segunda metade do século XX, nas
soluções urbanísticas das cidades brasileiras. Considerado por muitos
historiadores como um marco modernista, entendemos que a análise do concurso
(que inclui seus antecedentes, seu desenvolvimento, suas críticas, seus
resultados e a cidade construída) apresenta um panorama mais complexo que
aquele que está circunscrito no que se convencionou denominar de modernismo
brasileiro.
Pois, os projetos apresentaram-se
experimentais, diversos e até controversos, condições que nos permitem
denominá-los projetos dialéticos. Alcunha justificada pelas contradições que
acompanham Brasília desde o debate de construção de uma nova capital no interior
do país (a partir do século XIX) até sua consolidação como metrópole (no século
XXI). E se justifica por expressar os aspectos da formação de uma identidade
nacional que não se resume ao ideário modernista, mas que se completa pelos
embates entre o arcaico e o moderno, o nacional e o estrangeiro, o rural e o
urbano.
No campo urbanístico, as três
dezenas de projetos elaborados para Brasília, entre 1927 e 1957, representam as
principais matrizes urbanas de então. Recuperaram as referências coloniais e as
experiências nacionais e as uniram aos paradigmas urbanísticos internacionais.
Resgataram a tradição de uma cultura construída no passado colonial e no modelo
desenvolvimentista, mas também nas matrizes estrangeiras, nos avanços
tecnológicos e no debate internacional. A dialética, a junção dos opostos,
portanto, está presente na essência de cada projeto, como um sinal
culturalmente perene que ajuda a explicar a identidade nacional. O que nas
reflexões de Antonio Cândido seria essa dialética do localismo e do
cosmopolitismo, uma tensão entre o dado local (a substância da expressão) e os
moldes estrangeiros (como forma da expressão), interpretados como
superioridades e não exclusivamente deficiências supostas ou reais (Candido,
1980, pp. 109-110 e 120). E é esse conceito que será incorporado às análises
dos projetos para Brasília na busca pelo seu entendimento na cultura nacional e
à luz de um projeto mais amplo de desenvolvimento que se forma ao longo da
primeira metade do século XX.
Os projetos para Brasília não se
filiaram a uma única vertente urbanística e também não estiveram afastados
daquelas mais proeminentes, o que permite definir o marco teórico pelas
referências interdisciplinares. Pois, ao responderem aos aspectos daquela sociedade
da primeira metade do século XX, expressaram nos traçados e argumentos uma
estrutura de um pensar e de um fazer urbanístico autenticamente nacionais
porque foram dialéticos. Suas soluções não apenas estavam atualizadas ao debate
internacional, mas também estavam adaptadas às novas realidades, inclusive de
representação do Estado e operando como catalisador da identidade nacional pela
arquitetura e pelo urbanismo integradas ao debate cultural, artístico,
econômico, político e geográfico.
Os projetos são representativos
da valorização da iniciativa estatal, da obra pública com qualidade; da
expressão simbólica da arquitetura; da emergência do profissional liberal de
arquitetura e urbanismo; da sua organização de classe; das faculdades pioneiras;
da exploração plástica dos materiais como o concreto armado e o vidro; dos
avanços tecnológicos para grandes vãos e arrimos; das soluções viárias
complexas; da industrialização nacional; e da imagem de um país em
desenvolvimento. A infraestrutura, como se verá, está no centro dessas
relações, muito embora tenha sido invisibilizada pela historiografia que
preferiu valorizar o discurso às soluções. E assim atribuiu ao traçado da
capital construída (a implantação legada por Lúcio Costa) diferentes imagens
que variaram do abstrato (risco) ao figurativismo (cruz, pássaro, avião) e
pouco contribuiu para reconhecer o aspecto técnico e estético empegados. Ao
construir uma imagem pueril e utópica como um sopro de inspiração que concebe
uma cidade ex novo, colaborou na minimização das disputas e dos
conflitos sobre a transferência da capital federal do litoral para o interior,
de toda a rede de conhecimento técnico, dos entraves administrativos e,
principalmente, da formulação de um projeto de nação no qual Brasília foi uma
peça estrategicamente importante.
Para demonstrar essa construção a
partir do concurso de 1957, o presente artigo está baseado em Tavares (2014) a
partir de atualizações, revisões e avanços recentes. É composto por essa
introdução que busca problematizar o tema pelo conceito de dialética de Antonio
Candido como apoio teórico para a relação com a cultura nacional. A
contextualização ocorre na segunda parte pela identificação dos antecedentes ao
concurso que ao longo de cinco décadas proporcionaram condições seguras para a
construção da cidade em três anos (entre 1957 e 1960). E pela análise dos seis
projetos precedentes. A terceira parte, metodologicamente, está fundamentada na
pesquisa histórica de fontes primárias e na desnaturalização das leituras
hegemônicas sobre as análises dos projetos do concurso. Essa parte apoia-se nos
marcos teóricos que buscam demonstrar a circulação das ideias e seus
referenciais, sua diversidade de linguagem, de representação, de exploração
técnica e de funcionalidade nos projetos. Na quarta parte, apresentamos os
projetos por categorias de análises para demonstrar a diversidade da cultura
urbanística brasileira daquele período e reforçar o argumento de projetos
dialéticos. As discussões propostas na quinta parte estão embasadas na revisão
da crítica e da historiografia buscando evidenciar os elementos invisibilizados
por elas e que, ao nosso ver, explicam com profundidade a essência dos
projetos. E, sobretudo, o traço comum a eles. Por isso, evitamos nessa
introdução apresentar o estado da arte sobre o assunto, pois segue de forma
atualizada na quinta parte. As conclusões retomam o argumento central
fundamentado pelo conceito de dialética buscando comprovar como a análise do
conjunto dos projetos pode deflagrar um novo entendimento sobre a cultura
urbanística brasileira que se propaga e define a segunda metade do século XX,
no Brasil. E sobre o próprio simbolismo de Brasília dentro dessa cultura.
Antecedentes de Brasília: a construção de uma nação
Os fatores que favoreceram a
construção de Brasília no único mandato presidencial de Juscelino Kubitschek
(entre 1956 e 1961) foram resultantes de uma extensa, porém permanente, defesa
pela transferência da capital federal do litoral para o interior do país. Esse
processo de mais de cinco décadas subsidiou estudos, argumentos e iniciativas
que desencadearam o resultado do concurso em março de 1957 e a inauguração da
cidade em 21 de abril de 1960.
Desde o século XVIII, mitos e
fatos foram interpretados como elementos conjunturais da mudança. Marques de
Pombal, em 1761, teria antevisto as possibilidades de interiorização da capital
da colônia com benefícios ao governo português (metrópole colonizadora do
Brasil) para a fiscalização da exploração mineral (Vitor, 1980, pp. 38-39).
Hipólito da Costa, com formação em Coimbra, defendeu a independência do Brasil
entre 1808 e 1823 (a independência foi proclamada em 1822) por meio de um
jornal brasileiro editado na Inglaterra, Correio Braziliense, com
recorrentes propostas pela transferência da Capital Federal para a região
centro-oeste do país. Em 1821, proposta por José Bonifácio, uma carta sugeria
às cortes de Lisboa uma definição do local para a interiorização da capital
federal, na latitude 15°. Em 1822, deputados de Lisboa sugeriram o nome de
Brasília para a cidade e em 1823 retomaram o tema defendendo sua construção em
região equidistante das demais capitais.
Os estudos que definitivamente
subsidiaram as principais decisões iniciaram-se com Francisco Adolfo de
Varnhagen, o Visconde de Porto Seguro, no qual relatava sua viagem ao
centro-oeste do Brasil para identificar o melhor lugar para a nova capital
(Varnhagen, 1978). Os demais estudos seguiram os marcos constitucionais:
constituições de 1891, no período imperial; de 1934 e de 1937, no período do
Estado Novo; de 1946, no período democrático. A essas constituições foram
constituídas comissões que proporcionaram subsídios técnicos e mobilizaram a
classe política em debates ao redor do tema e da construção de um projeto
nacional de desenvolvimento que envolveu estratégias de “colonização”, defesa e
ocupação territorial.
A Comissão Exploradora do
Planalto Central do Brasil, iniciada em 1892 e liderada pelo astrônomo Luiz
Cruls (Cruls, 1894), foi a primeira iniciativa oficial de delimitar o sítio a
ser destinado ao futuro Distrito Federal. A expedição percorreu mais de 4.000
km demarcando os 14.400 km² do Distrito Federal ao fim de 26 meses, reafirmando
a faixa entre os paralelos 15º e 16º de latitude como lugar preferencial. Foram
atribuídas a essa comissão os estudos do botânico, paisagista e engenheiro
hidráulico francês Auguste F. M. Glaziou sobre a possibilidade de um lago
artificial integrar o conjunto das soluções para a nova capital.
Posteriormente, esses estudos concretizaram-se com o Lago Paranoá.
A Comissão de Estudos para a
Localização da Nova Capital do Brasil iniciou-se em 1946 (Comissão de Estudos
para Localização da Nova Capital do Brasil, 1948) liderada pelo General Djalma
Polli Coelho, com foco nas determinações estratégico-militares e geopolíticas
da transferência da capital federal. Durante os estudos dos recursos naturais,
da demografia e das formas de financiamento do empreendimento, alguns deputados
buscaram, sem sucesso, alterar o local para a região do Triângulo Mineiro a
partir da formulação de uma nova concepção geográfica de planalto central que o
incluísse nessa categoria.
Em 1953 foi instituída nova
comissão, a Comissão de Localização da Nova Capital Federal liderada pelo
General Aguinaldo Caiado de Castro que ampliou para 77.000 km² a área de
estudos. E a empresa norte-americana Donald Belcher & Associates Inc.
foi responsável pela definição de 5 poligonais com potencial para receberem a
nova capital com população de 500.000 habitantes numa área de cerca de 1.000
km² (Donal J. Belcher and Associates, 1957).
Em 1954, a última comissão que
foi criada para esse fim, a Comissão de Planejamento da Construção e da Mudança
da Capital Federal, foi liderada pelo Marechal José Pessoa Cavalcante de
Albuquerque e foi a responsável pela escolha definitiva do Sítio Castanho para
instalar o Distrito Federal (Albuquerque, 1958; Vitor, 1980, 194). Dessa
comissão originou-se a Subcomissão de Planejamento Urbanístico, em 1955, que
promoveu estudos urbanísticos (por Raul Pena Firme, Roberto Lacombe e José de
Oliveira Reis), plano de energia hidroelétrica (engenheiro-eletricista General
João de Saldanha da Gama com o professor Ernani da Mota Rezende) e os primeiros
estudos de águas e dos coletores gerais dos esgotos (engenheiro Francisco
Saturnino de Brito Filho) (Albuquerque, 1958).
A Subcomissão propôs a vinda de
um estrangeiro como responsável pela coordenação do projeto da cidade buscando
repetir a fórmula empregada em 1936 quando Le Corbusier orientou as ideias
iniciais do edifício do Ministério da Educação e Cultura (MEC) em substituição
ao concurso de projetos arquitetônicos que havia sido realizado. Le Corbusier
já havia declarado interesse em participar desse processo por meio de
correspondência ao presidente da república (Arquitetura e Engenharia,
1956, s.p), inclusive atribuindo a denominação de plan pilote como
sinônimo do projeto para a nova capital em carta intermediada pelo embaixador
do Brasil nos Estados Unidos, Hugo Gouthier (Lopes, 1996, pp. 90-91). Contudo,
a proposta não avançou frente ao reconhecimento do potencial profissional dos
arquitetos e urbanistas brasileiros capazes de serem responsáveis pela
concepção da nova capital.
Essa trajetória demonstra que não
houve, a priori, um consenso sobre a definição do local e da maneira da
construção da nova capital. Mas, que essa decisão foi uma construção
geopolítica, ideológica e econômica embasadas pelo planejamento. Pois, no governo
de Juscelino Kubistchek, a construção de Brasília foi incorporada ao Programa
de Metas e transformada na meta-síntese de sua plataforma eleitoral,
integrando-se aos 30 objetivos iniciais. Tornou-se um emblema de sua gestão e
uma infraestrutura nacional articuladora de outras infraestruturas em rede como
as rodovias, as conexões aéreas, a integração de capitais estaduais, etc.
(Moreira, 1998, pp. 28-32). E consolidava uma iniciativa anterior de Getúlio
Vargas, de “colonização” do interior do país (chamado Brasil Central), que
havia ocorrido pela campanha Marcha para o Oeste lançada em 1938. Essas ações
articulavam-se a um projeto amplo e de longo prazo de desenvolvimento e de
identidade nacionais que envolveu agentes da arquitetura moderna brasileira (Martins,
1992, pp. 71-76) em diferentes governos.
Como peça do planejamento de
Kubistchek, a nova capital respondia a três principais direcionamentos em
escala nacional: ao desenvolvimento do Centro-Oeste; à reorganização das
comunicações físicas terrestres em todo o país pela integração rodoviária das capitais
estaduais; e, principalmente, à criação de uma imagem de nação moderna e
integrada cujo símbolo nacional seria uma cidade inovadora. Seis projetos
urbanísticos (Figura 1) corresponderam a esse processo, entre 1927 e 1955, e
precederam o concurso nacional subsidiando essas determinações.
O primeiro plano (autor
desconhecido, de 1927) está vinculado à valorização das terras no planalto
central após a instalação da pedra fundamental da nova capital, em Planaltina,
que ocorreu em 1922. Encontrado no Cartório de Registros de Imóveis na mesma
cidade, o projeto demonstra o pragmatismo de uma proposta simples e vinculada
aos interesses imobiliários. Conforma o modelo internacional de traçado
monumental de uma cidade como forma de expressar a grandiosidade da capital
federal, mas sem atribuir qualquer indício de sua função administrativa. Com
outras iniciativas foi motivador de vendas de lotes nas imobiliárias de São
Paulo-SP e Rio de Janeiro-RJ como oportunidade de investimentos na nova capital
federal.
O plano de T. F. Almeida, de 1929
(Almeida, 1930), historiador brasilianista, também propôs uma cidade com
traçado geométrico e monumental. Incorporou a setorização de instituições
públicas e definiu uma estrutura urbana por praças, parques, vias, quadras,
lotes e equipamentos de infraestrutura. O centro foi definido pela Praça da
República e o desenho se conformou como uma narrativa histórica dos principais
marcos nacionais e personalidades internacionais iluministas e republicanas. O
projeto foi um instrumento da construção histórica da América homenageando
intelectuais pelos nomes de ruas e praças. Em posição de destaque, reservou uma
das avenidas principais para receber o nome do presidente que construísse seu
plano.
O plano de C. Portinho, de 1936
(Portinho, 1939a; Portinho, 1939b), engenheira, pode ser compreendido como um
manifesto vanguardista em meio à predominância acadêmica de traçados barrocos e
foi elaborado como sua tese de doutorado. É a primeira proposta com acesso aos
estudos das comissões e se vincula exclusivamente aos modelos de cidades
modernistas. Estabeleceu uma grelha ortogonal organizada por setores funcionais
(trabalho, lazer, circulação e habitação) com destaque ao papel da moradia. A
circulação foi marcada pela incorporação de experiências internacionais
(viadutos e cruzamentos) e evidenciada por uma grande plataforma central
destinada aos transportes ferroviário e aéreo. Estava alinhado ao momento de
desenvolvimentismo industrial e buscou responder à era racional e mecanicista.
Nos edifícios, substituiu o terraço-jardim por praias artificiais para o banho
de sol adaptando um modelo internacional aos hábitos nacionais.
O plano de J. Machado, de 1948
(Machado, 1948), deputado federal, abordou a questão da circulação nacional a
partir da nova capital no centro geográfico do país. Definiu um grande sistema
de circulação radial-perimetral integrando os modais rodoviário, ferroviário e
fluvial à nova capital. Para a construção da cidade criou uma metodologia a
partir de uma planilha de obras e financiamentos como forma de comprovar e
garantir a viabilidade do empreendimento pelos investimentos públicos e
privados.
O projeto de J. A. de Mattos
Pimenta, médico, jornalista e fundador da Bolsa de Imóveis do Rio de Janeiro,
da década de 1950 (Pompéia, 2002), reafirmou a inserção de diferentes agentes
na concepção da nova capital, sobretudo pelo mercado imobiliário. Os documentos
dos projetos não puderam ser encontrados, porém as imagens de reportagens
possibilitam identificar uma linguagem próxima às referências urbanísticas
francesas, inglesas e alemãs. Grande conhecedor e defensor do planejamento
urbano, Mattos Pimenta circulou entre as principais instituições da elite
carioca (como o Rotary Club) defendendo as reformas urbanísticas (Pimenta,
1926) que empregou na sua proposta.
Por fim, o projeto de R. Lacombe,
R. Pena Firme e J. O. Reis, professores da Universidade do Brasil e membros da
Subcomissão federal, propôs em 1955 (Silva, s.d) um estudo de implantação
estruturado por um traçado viário e algumas setorizações, apropriando-se das
principais vertentes urbanísticas internacionais. O saneamento foi um dos
elementos estruturais do traçado, com diálogos com o plano de Saturnino de
Brito. Suas soluções aproximaram-se substancialmente das soluções do projeto de
Portinho reforçando as condições mais concretas de uma cultura urbanística que
foi se assentando ao longo da primeira metade do século XX.
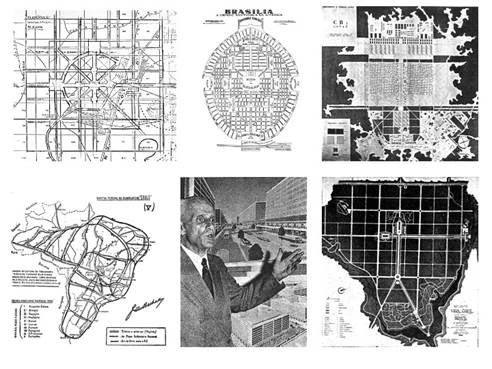
Figura 1. Projetos e planos para Brasília antecedentes ao
concurso, entre 1927 e 1955. Propostas de 1927 (autor desconhecido), Theodoro
F. Almeida (1929), Carmem Portinho (1936), acima. Propostas de Jales Machado
(1948), J. A. de Mattos Pimenta (década de 1950), Roberto Lacombe, Raul Pena
Firme e José de Oliveira Reis (1955), abaixo. Tavares, 2014.
Sinteticamente, pode-se afirmar
que esses projetos foram concebidos num período de conformação da cultura
urbanística nacional; seus autores divergiam na formação profissional induzindo
diferentes e até contraditórias formas de atuação; não necessariamente estavam
vinculados ao Estado, muito embora foram motivados por suas ações; e
experimentaram fontes e referências diferenciadas, não havendo homogeneidade,
por exemplo, nem na definição do local escolhido. Mas, coletivamente
representam os principais anseios urbanísticos vigentes nesse período e a
trajetória da consolidação de alguns paradigmas que se tornariam vigentes a
partir de então.
Concurso para o Plano Piloto de Brasília, 1956 a 1957
Todas essas condições
possibilitaram certo grau de segurança para que Juscelino Kubistchek assumisse
a construção da capital como marco político de sua gestão. A realização do
concurso para a escolha do plano piloto esteve vinculada à criação de uma empresa
pública responsável pela nova capital, a NOVACAP. A NOVACAP foi criada em 1956
como estratégia para reunir apoiadores do presidente, bem como os políticos de
oposição pela atribuição de cargos com responsabilidades. Seus objetivos
centravam-se no planejamento e construção da nova capital; nas negociações de
posse e empréstimo de imóveis da área; e na coordenação de todos os projetos e
obras necessárias para a construção da cidade (Lopes, 1996, pp. 135-140).
O edital (Brasil, 1956) foi a
peça chave para a compreensão das principais determinantes dos projetos
apresentados, pois definiu a população de 500.000 habitantes, a localização da
cidade e a criação de um lago com lâmina d’água inicialmente prevista na cota
997 e que foi posteriormente alterada para a cota 1000. Disponibilizava os
estudos existentes sobre a área e exigia como material a ser entregue: a) o
traçado básico da cidade indicando a disposição dos principais elementos da
estrutura urbana, a localização e interligação dos diversos setores, centros,
instalações e serviços, distribuição dos espaços livres e vias de comunicação
(escala 1:25.000); e b) um relatório justificativo.
Houve 62 inscritos com variedade
de profissionais e empresas. Nessa lista podem ser encontrados nomes como o de
Paulo Antunes Ribeiro, que se tornaria membro do júri; e de Lúcio Costa, que
diversas vezes havia negado participação no concurso ao ser convidado por
outros arquitetos e escritórios. Uma única mulher concorrente, Sonia Marlene de
Paiva; e algumas construtoras e firmas especializadas em engenharia. Carlos
Frederico Ferreira, Luiz Saia entre outros conhecidos inscreveram-se, porém,
não participaram. Assim, foram 26 projetos apresentados e duas grandes
polêmicas: a ausência de A. E. Reidy justificada por Carmem Portinho (Portinho,
1997) por entender que se tratava de um concurso com cartas marcadas. E o
horário da entrega do projeto de Lúcio Costa (Costa, 1995, 319) que teria
ocorrido às 23 horas do último dia (Escolhido o plano-piloto..., 1957),
portanto fora do horário determinado por telegrama enviado pela NOVACAP aos
concorrentes que estabelecia o limite da entrega para as 18 horas.
O júri (cuja lista inicial
incluía Walter Gropius, R. Neutra, Percy J. Marshall, Max Lock, Alvar Aalto,
Clarence Stein, Le Corbusier e Mario Pane) foi definido por: Israel Pinheiro,
presidente da NOVACAP; Paulo Antunes Ribeiro, representante do Instituto dos
Arquitetos do Brasil; Luiz Hildebrando Horta Barbosa, representante da
Associação dos Engenheiros; Oscar Niemeyer e Stamo Papadaki, dois
representantes do departamento de urbanismo da NOVACAP, sendo este último o
responsável pela edição das primeiras obras de Niemeyer no exterior, além de
ser professor da Universidade de Nova Iorque; William Holford, assessor de
Urbanismo do Governo Britânico, um dos responsáveis pelo plano regulador de
Londres e planejador da capital da Rodésia; e André Sive, arquiteto francês
conselheiro do Ministério da Reconstrução. O resultado final selecionou sete
finalistas: primeiro colocado, projeto 22 de Lúcio Costa; segundo colocado,
projeto 02. Boruch Milmann, João Henrique Rocha e Ney Fontes Gonçalves;
terceiro e quarto colocados, projeto 08. M.M.M. Roberto e equipe, e projeto 17.
Rino Levi, Roberto Cerqueira César e L. R. Carvalho Franco; quinto colocados,
projeto 01. Carlos Cascaldi, João Vilanova Artigas, Mário Wagner Vieira da
Cunha e Paulo de Camargo e Almeida; projeto 24. Henrique E. Mindlin e Giancarlo
Palanti; e projeto 26. Construtécnica S/A (Módulo, 1957). O voto
separado de Paulo Antunes Ribeiro, que não assinou a ata final, discordava da
seleção e sugeria um grupo formado por dez equipes concorrentes para elaborar um
projeto definitivo independente daqueles apresentados (Ribeiro, 1957b).
As justificativas do júri, as
revistas especializadas e os jornais valorizaram as características dos
projetos finalistas, com foco nas soluções vanguardistas. Contudo, a análise da
totalidade dos projetos comprova outros aspectos, mais ricos e representativos
da diversidade da cultura urbanística que se fixava naquele momento, no Brasil,
a despeito de todos os confrontos entre os nacionalismos e estrangeirismos do
ideário nacional.
Os projetos foram direcionados
pelas concepções da tradição politécnica e das belas artes. No Brasil, a
primeira metade do século XX nos grandes centros urbanos foi maraca pela
instalação de ensinos especializados, instituições de classes voltadas para essa
área, constituição de leis e normas de construção e a propagação de informações
nacionais e internacionais através de publicações (documentos, levantamentos,
revistas, livros e manuais especializados). Essas condições possibilitaram, ao
longo das décadas, constituir uma cultura urbanística híbrida, heterogênea que
gozava das principais atualizações estrangeiras sem abandonar as tradições.
Esse amplo repertório está
presente nos projetos do concurso. E, diante da diversidade do conjunto, não é
possível afirmar que houve vertente hegemônica, nem tampouco exclusiva adesão a
conceitos nacionais ou internacionais. Houve, porém a conformação de um
processo diverso na articulação de diferentes escolas arquitetônicas e
urbanísticas, incluindo aquelas contraditórias entre si. Assim, podemos
enumerar alguns temas recorrentes ao longo desse meio século de produção
urbanística encontrados nos projetos.
Nas referências estrangeiras, os
projetos dialogaram com os ideais utópicos do início do século XIX pela ambição
de projetar uma cidade como um objeto controlado que expressasse os valores de
uma nova sociedade por soluções ligadas às novas tecnologias, indústria e
teorias médicas. Prevaleceram, também, os modelos e métodos de planejamento e
projeto urbano do racionalismo de Le Corbusier, principalmente pelos exemplos
da Cidade para 3.000.000 habitantes de 1922, do Plan Voisin de 1925 e da
Ville Radieuse de 1935 (Le Corbusier, 1989); os ideais pinturescos de E.
Howard e R. Unwin, e a retomada de valores tradicionais de Camillo Sitte
(Sitte, 1992). Algumas experiências alemãs como o Zoning,
norte-americanas como as Neighborhood Units, francesas como o grupo Economie
et Humanisme e inglesas como as New Towns denotam o hibridismo e o
grau de atualidade das propostas. A apropriação dos conceitos dos Congressos
Internacionais reflete a peculiaridade do diálogo entre os opostos, sobretudo
pela constante sobreposição entre as diretrizes preconizadas pelo CIAM IV pela
Carta de Atenas (Le Corbusier, 1989) e pelo CIAM VIII com o debate do coração
da cidade (Tyrwhitt; Sert; Rogers, 1952). A cidade de Washington (de P. C.
L’Enfant, 1791-1792) e de Chandigarh (de Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Jane
Drew e Maxwell Fry, de 1951), ambas capitais federais, também foram mencionadas
como referências.
Das experiências nacionais, foram
referenciados preceitos e obras de melhoramentos e embelezamentos de Saturnino
de Brito, Pereira Passos, Alfred Agache e Prestes Maia. Pode-se destacar também
a continuidade relativa à prática de criação de novas capitais estaduais
republicanas projetadas por Aarão Reis (Belo Horizonte-MG, 1894-1898) e Attílio
Correia Lima (Goiânia-GO, 1934), sobretudo em relação às sedes administrativas,
as praças cívicas, áreas públicas, áreas verdes e parques. Anhaia Mello (CEPEU)
e Pe. Lebret (SAGMACS) podem ser considerados as principais referências em
planejamento e pesquisa urbana pelos seus modelos e métodos de plano e projeto
que se reproduziram nas propostas.
Na arquitetura, as referências
foram os edifícios lâminas, os blocos residenciais, anfiteatros, a
monumentalidade e a pureza da linguagem propagadas por Le Corbusier, Mies Van
der Rohe, Walter Gropius entre outros. Os ideais sociais, a linguagem e o programa
das experiências dos conjuntos habitacionais de Pedregulho e da Gávea
projetados por A. E. Reydi nas décadas de 1940 e 1950, no Rio de Janeiro, são
referenciadas em algumas das soluções habitacionais e no programa dos
edifícios.
Indiretamente, estão presentes as
soluções propagadas nas reformas urbanas europeias da segunda metade do século
XIX (de Paris, 1856 a 1870; de Barcelona, 1850; da Ringstrasse de Viena,
a partir de 1860), bem como da Teoria Geral da Circulação de Eugène Hénard,
1911. Os projetos da cidade linear de Soria y Mata, 1882; da cidade industrial
de Tony Garnier, 1917; da Radburn, de Clarence Stein e Henry Wright,
1927; e as referências de planejamento regional do Regional Planning
American Association (ligadas ao pensamento urbano de L. Mumford, H.
Wright, C. Withaker, B. McKay, Alexander Bing e Clarence Stein) também são
reconhecidas nos projetos. E as experiências do Plano de Abercrombrie para
Londres, de 1944; e do New Towns Act, 1946, ficam muito evidentes nas
propostas de expansão urbana por cidades satélites.
Quanto à formação dos
concorrentes, os projetos distinguiram-se por serem conduzidos por um único
arquiteto (Costa, 1991) ou por equipes interdisciplinares (Cascaldi et al,
1957; Roberto et al, 1957). Consultores educacionais, agrícolas, calculistas,
sociólogos, estatísticos, artistas, agentes da saúde e sociais representaram
algumas das disciplinas envolvidas. Nessas, os projetos exploraram o entorno,
propuseram mudanças sociais e envolveram planos abrangentes muito além do
exigido pelo edital. E as citações a grupos e movimentos nacionais e
estrangeiros esclarecem algumas das referências adotadas, como as ideias do urban
design (Guimarães, 1957) do CEPEU (Ghiraldini, 1957), do movimento city
beautiful (Ribeiro, 1957a), da Carta de Atenas (Saraiva et al, 1957) e de
cidade-jardim (Camargo, 1957).
A implantação da cidade foi
orientada, majoritariamente pelos critérios técnicos topográficos e a
delimitação da lâmina d’água originada do represamento que formou o Lago
Paranoá. Foram consideradas a drenagem natural, a distribuição da água para a
cidade (Milmann e al, 1957) e a captação do esgoto. O ponto mais alto do sítio
também foi recorrentemente abordado como elemento estético importante na
setorização de alguns planos para a localização da torre de comunicações
(Roberto et al, 1957; Costa, 1991) e dos centros da cidade (Ghiraldini, 1957).
As margens do lago foram ocupadas pelos setores de lazer e esporte. Alguns
poucos projetos distanciaram-se do lago e propuseram uma implantação dispersa
pelo sítio (Cascaldi et al, 1957; Ribeiro, 1957a; Ghiraldini, 1957). Apenas
duas equipes restringiram-se a pequenas porções do sítio para a implantação de
toda a cidade (Saraiva et al, 1957; Levi et al, 1957).
Estudos regionais (Cascaldi et
al, 1957), caracterização de aldeias rurais (Ghiraldini, 1957) e usos da terra
através da agricultura e pecuária (Roberto et al, 1957) buscaram resolver o
problema do abastecimento não apenas da capital como também das cidades
satélites, incluindo toda a região. O planejamento rural, pouco usual nesse
período, e as formas de exploração dos recursos naturais qualificaram boa parte
do entorno desses planos, urbanizando essas áreas da cidade e definindo áreas
de menor concentração da população. Complexos sistemas de centros rurais e
cooperativas também foram desenvolvidos (Ghiraldini, 1957). Em alguns casos
(Wilheim, 1957; Ribeiro, 1957a), o próprio planejamento regional definiu-se
pelo planejamento agrícola ou pela preservação ambiental (Guimarães, 1957) por
cinturão verde. Outras propostas restringiram-se à definição do centro urbano
destinado aos funcionários públicos (Souza et al, 1957) e direcionando o
restante da população a bairros marginais.
Os estudos demográficos
determinaram os modos de expansão da cidade. Embora o edital previsse uma
população de 500.000 habitantes, a população proposta oscilou entre 450.000
(Camargo, 1957) a 1.200.000 habitantes (Roberto et al, 1957). As densidades
variaram entre 30 hab/ha na cidade (Ghiraldini, 1957) e 576 hab/ha nas áreas
residenciais (Guedes, 1957). Houve caso de divisão dos espaços da cidade por
faixa etária, definindo os usos das áreas a partir da idade de cada parcela da
população (Guedes, 1957). A preocupação com a população construtora também foi
um tema específico, buscando garantir qualidade para sua permanência na nova
capital (Cascaldi et al, 1957; Wilheim, 1957; Roberto et al, 1957).
A morfologia da malha urbana
oscilou do modelo tradicional e acadêmico da grelha ortogonal com diagonais
sobrepostas (Ribeiro, 1957a) às formas menos ortodoxas como as elipses e
experimentos geométricos (Souza et al, 1957). Em outros, buscou-se a conformação
pinturesca das vias e sua adequação à topografia (Roberto et al, 1957; Camargo
et al, 1957; Wilheim, 1957). Naqueles com traçados próximos aos modelos
modernistas, a cidade esteve organizada por vias exclusivamente ortogonais
(Cascaldi e al, 1957; Santos, 1957). Um caso muito peculiar foi a representação
da bandeira do Brasil no centro da cidade, composta a partir das principais
vias de circulação (Schroeder, 1957).
A circulação, certamente, foi um
dos temas de maior importância em todos os planos, incluindo soluções complexas
de vias subterrâneas, elevados, cruzamentos, etc. (Schroeder, 1957; Santos,
1957; Souza et al, 1957). Variaram entre uma hierarquização com apenas 2 tipos
de vias (Guimarães, 1957) a 14 tipos diferenciados (Wilheim, 1957). As soluções
viárias ocorreram por perimetrais e radiais, ruas convencionais, monorail
e esteiras rolantes (Roberto et al, 1957), metro (Guedes, 1957), e divisões
mais rígidas entre pedestre e automóvel. O centro de transporte (Rodoviária,
Ferroviária, Aeroporto ou ambos) foi destacado em vários planos e em alguns
deles com localização privilegiada no centro (Costa, 1991; Guedes, 1957), no
ponto mais alto do sítio (Milmann et al, 1957; Santos, 1957) ou no limite do
tecido urbano (Roberto et al, 1957, Dias et al, 1957).
Os setores foram definidos pelo
zoneamento que variou entre uma rígida divisão funcional (Santos, 1957;
Schroeder, 1957) e a incorporação de diferentes atividades numa mesma área
(Guimarães, 1957). Assim foram concebidos os espaços públicos e abertos e os principais
centros (Cívico, Administrativo Federal, Administrativo Municipal, Comercial,
de Negócios, Financeiros). O Centro Cívico ou Administrativo foi diferenciado
pela sua monumentalidade, incorporado ao restante da cidade por um ou mais
eixos monumentais ou uma grande área verde (Saraiva et al, 1957; Souza et al,
1957).
E a questão habitacional recebeu
interesse especial com inúmeras experimentações tipológicas. Casas geminadas
populares térreas (Guimarães, 1957), edifícios de 300 metros de altura (Levi et
al, 1957), apartamentos em prédios de diversos pavimentos (3, 4, 6, 10, 12,
etc), blocos residenciais de múltiplo uso, casas térreas ou assobradadas
(Kahir, 1957) foram as principais soluções. Geralmente essas casas mantinham
duas frentes, uma destinada ao passeio de pedestres (geralmente um parque) e a
outra fachada destinada ao transporte motorizado (geralmente ruas ligadas às
principais vias de circulação da cidade). Edifícios elevados sobre pilotis
(Guedes, 1957), mansões (Costa, 1991) e loteamentos convencionais (Schroeder,
1957) também foram considerados. Essas áreas eram articuladas a zonas
comerciais e de serviços. Em alguns casos houve separação entre classes sociais
(Palanti et al, 1957) ou entre padrões familiares (Guimarães, 1957) com
apartamentos apenas para solteiros em blocos separados do restante dos moradores
(Wilheim, 1957; Ghiraldini, 1957).
Os planos utilizaram instrumentos
legais para garantir o controle sobre a construção do empreendimento, para
propor formas de financiamento das obras (Milmann et al, 1957), garantia da
ocupação e uso do solo (Melo Saraiva, 1957), da diversidade e qualidade
arquitetônica (Camargo, 1957), da gestão dos espaços públicos (Wilheim, 1957),
ou formas de comercialização da terra (Roberto, 1957) através do financiamento
público e privado das construções. Buscavam evitar a especulação (Cascaldi et
al, 1957) ou agenciá-la (Palanti et al, 1957). Demonstravam uma proximidade
peculiar com as regras jurídicas e depositaram nas leis a estratégia de
garantia de efetividade das propostas.
As áreas verdes foram
solucionadas por cinturões de abastecimento (Ghiraldini, 1957), parques urbanos
(Wilheim, 1957) em áreas centrais destinadas às atividades esportivas, à
monumentalidade dos edifícios, sobretudo às sedes do poder. Em alguns planos, as
áreas verdes concentraram os principais investimentos (Palanti et al, 1957). E
a margem do lago e as nascentes dos rios foram tratadas com maior cuidado para
uma concepção preservacionista e de manutenção dos recursos naturais
(Guimarães, 1957).
As formas de expansão urbana ao
longo das décadas foram propostas por cidades e bairros satélites (Souza et al,
1957) e por cidades lineares ao longo das principais vias de acesso (Milmann et
al, 1957). As células inspiradas em cidades africanas (Roberto et al, 1957) e
as torres de 300 metros de altura (Levi et al, 1957) foram os casos mais
inusitados. Em outros, não houve área de expansão (Santos, 1957). A previsão
para a construção completa da cidade oscilou entre 7 anos (Roberto et al, 1957)
e 50 anos (Guedes, 1957; Ghiraldini, 1957).
Assim sucederam-se os planos,
cada qual com sua peculiaridade e concepção particular. Contradições e
oposições completam um quadro amplo e revelador dos diálogos entre tamanha
distinção e variedade de soluções. Ilustram, dessa forma, a permanência de um extenso
referencial de soluções e ideologias que conformam um panorama da formação de
cada equipe, dos principais objetivos por ela delineados e suas soluções
urbanísticas.
A análise da totalidade dos
projetos permite identificar um repertório, à época, atualizado à produção
urbanística internacional vanguardista, mas também que retomou conceitos
acadêmicos, mais ortodoxos e conservadores. Explicitam as referências e matrizes,
contudo articuladas a uma realidade nacional, portanto, reinterpretadas a
partir das necessidades locais. E amalgamadas pela inventividade autoral das
equipes afirmaram um sintoma nacional de identidade pela diversidade,
experimentação e articulação de posições, a priori, antagônicas. Por isso,
muitas soluções parecem ser anacrônicas em articular referências e
conhecimentos tão distintos, entretanto essa dualidade segue uma certa ordem
dialética nacional baseada na construção de algo novo.
Quadro da cultura urbanística brasileira: soluções e
componentes diversificados do tecido urbano
Diante do exposto e aprofundando
a análise sobre os projetos concorrentes e seus antecedentes, é possível
reconhecer a diversidade da cultura urbanística brasileira da primeira metade
do século XX pelas soluções e componentes que constituem as propostas para a
nova capital. E assim comprovar o argumento de que esses projetos estão
assentados sobre uma base dialética a partir da qual divergem/convergem
concepções e repertórios que se tornaram nas décadas seguintes exaustivamente
explorados nas cidades brasileiras. Para essa finalidade, optamos por uma
análise categorizada e baseada no tecido urbano, ou seja, ao mesmo tempo
agrupando alguns projetos por determinados critérios e destacando as
particularidades das soluções urbanísticas.
A equipe interdisciplinar de
Cascaldi partiu da leitura regional para definir o desenho urbano (Figura 2). A
nova capital deveria ser um centro regional com zonas específicas para as
atividades de interesse nacional. As demais zonas concentrariam essencialmente
os servidores públicos numa clara diferenciação entre o plano local e os
centros rurais. Esses, instrumentos do planejamento regional e responsáveis
pelo abastecimento da cidade, tiveram a mesma importância que os autores
atribuíram, por exemplo, à definição de setores específicos aos futuros
construtores da cidade.
O planejamento agrícola
referenciando o planejamento regional também foi uma das formas encontradas
pela equipe liderada por Ghiraldini (Figura 2). Em seu projeto as habitações
foram implantadas em unidades de vizinhança, a cidade foi dividida
funcionalmente, seu centro localizado no ponto mais alto do sítio, e as formas
de controle de expansão foram mantidas por cinturões verdes ao redor do limite
urbano. As zonas rurais sediaram equipamentos especiais valorizando o aspecto
comunitário das soluções urbanísticas.
O projeto da equipe de Wilheim
estruturou a cidade em diferentes centros vinculados a órgãos e edifícios
públicos, e em células residenciais (Figura 2). A predominância de diferentes
tipologias de áreas verdes e de estudos socioeconômicos e agronômicos dão a
dimensão das buscas interdisciplinares para a compreensão da cidade e foram
objeto de extenso caderno de levantamentos e recomendações sobre o distrito
federal.
Guimarães, por exemplo, antecipou
a questão da participação popular na elaboração de leis da cidade (Figura 2).
Seu plano alinhava-se a um interesse pela escala humana, o controle das
relações monumentais em praças públicas e um plano de produção agrícola e
proteção ambiental. Simultaneidade e diversidade de usos eram frequentemente
buscadas entre os espaços públicos e privados, com a predominância da habitação
como garantia da diversidade e do convívio cotidiano.
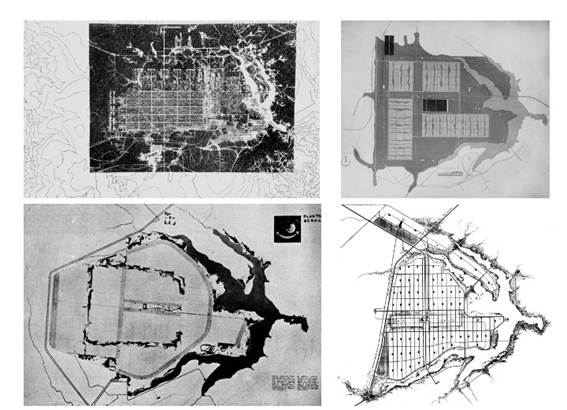
Figura 2. Propostas das equipes de Cascaldi e Ghiraldini
(acima) e das equipes de Wilheim e Guimarães (abaixo). Tavares, 2014.
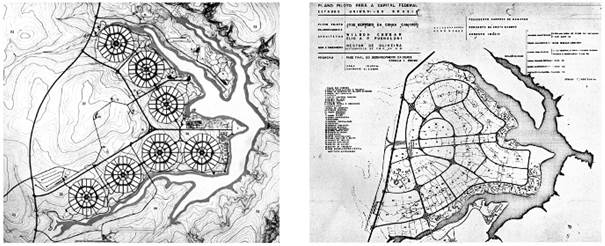
Figura 3. Proposta da equipe de M. M. M. Roberto e de José
Geraldo da Cunha Camargo. Tavares, 2014.
A polinucleação em células também
é exaustivamente explorada em outros dois projetos. O projeto dos irmãos
Roberto não só propôs uma cidade capital como definiu um modelo de cidade nova
a partir de sua organização celular, inicialmente em sete núcleos ligados entre
si por ruas e parques (Figura 3). Contrariando o modelo racionalista, propôs
uma nova organização política a partir de seu modelo de planejamento urbano. O
Centro Administrativo deveria estar no foco das sete células e estar implantado
às margens do lago.
Igualmente, Cunha Camargo definiu
uma capital estruturada em células, tendo como principal referência as
cidades-jardins de E. Howard. Adequando o traçado e as implantações à
topografia, buscou consolidar um planejamento social (Figura 3). A
descentralização seria garantida pela localização dos funcionários dos
ministérios no centro do plano e a localização da população proletária ao seu
redor, atendida por grandes equipamentos comunitários de lazer e serviços. Os
equipamentos de infraestrutura foram concebidos integrados ao restante dos
sistemas urbanos.
Proposta como um agregado de
referências, a capital de Dias e equipe foi concebida a partir de modelos
milenares, vanguardistas e acadêmicos. Estruturou-se a partir do coração da
cidade e das superquadras adequadas à topografia e constituídas de áreas verdes
em seu interior (Figura 4). As áreas verdes ao redor da cidade limitariam a
expansão dando suporte ao abastecimento e conformando qualidades cenográficas
ao projeto.
O plano de Sabóia Ribeiro também
foi implantado segundo a caracterização cenográfica mantendo certo
distanciamento do lago e se apropriando do ponto mais alto do sítio para o
início do traçado (Figura 4). Geometrizada, a definição do centro aproxima-se
das posturas barrocas nas quais a criação de visuais, a definição de eixos
perspectivos e o domínio da natureza contribuem para a qualidade estética da
cidade. As áreas habitacionais foram organizadas em unidades de vizinhança, o
entorno a partir do cinturão verde destinado ao lazer e produção agrícola. Para
a região, um planejamento de comunicação viária e de preservação das reservas
naturais. Os projetos de 1927 e de Almeida (1929) também exploraram traçados
similares para a conformação da cidade.
Pouco conhecida até então, a
equipe de Milmann estruturou o projeto sobre as unidades habitacionais
descentralizando e monofuncionalizando a cidade (Figura 5). Três setores
definiriam as principais funções, cabendo ao planejamento regional (cidades
satélites ao redor das rodovias) o controle e o financiamento do plano piloto.
A relação entre o ponto mais alto do sítio e o lago foi evidenciada pela
implantação. E seu traçado e seu zoneamento tiveram resultados muito próximos
ao projeto de Costa, o que pode ter contribuído para sua segunda colocação no
concurso, confirmando e legitimando o primeiro lugar.
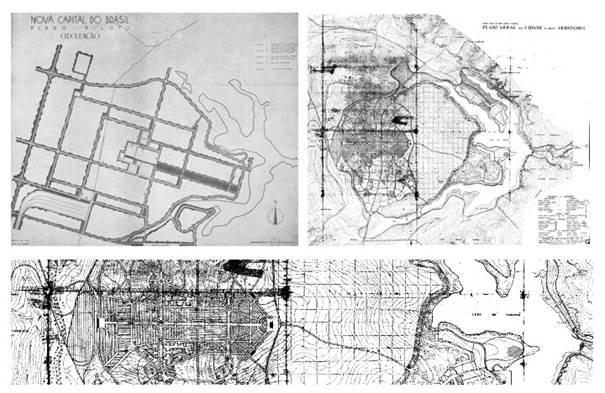
Figura 4. Proposta da equipe de Dias e proposta de José
Otacílio de Sabóia Ribeiro com detalhe abaixo. Tavares, 2014.
O traçado linear também foi
abordado pela equipe STAM (Figura 5). O projeto definia alta concentração
populacional, expansão por núcleos na borda leste do lago, transporte
subterrâneo e grandes blocos residenciais cujas atividades térreas seriam
divididas por faixas etárias como forma de democratizar os usos da cidade.
No projeto de Palanti e equipe a
cidade foi proposta num grande parque verde em que o lago e as características
naturais foram privilegiados (Figura 5). A predominância do viário, do
zoneamento e das unidades plurifuncionais foram algumas das abordagens do plano
de diretrizes.
Um parque verde, monumental e de
expressão simbólica também foi um dos eixos estruturadores do projeto de
Saraiva e equipe (Figura 5). Juntamente dos setores habitacionais, o parque
integraria três núcleos geradores do projeto: Centro do Governo Federal, Zona
Industrial e Centro de Comércio e Centro Cívico dando suporte às habitações.
A questão estética garantiu, no
plano de Souza, uma importante área verde central (Figura 6). Entretanto, a
proposta fora organizada a partir da funcionalidade do zoneamento e da
eficiência das tecnologias empregadas na infraestrutura. Assim, o desenho
urbano buscou aproximar as habitações e os serviços e resolver os serviços
ancilares com novas tecnologias. Estudos de bacias hidrográficas, vetores de
circulação regional e territorial garantiram a integração da cidade com o
restante do Distrito Federal.
A abordagem tecnológica também
foi protagonista no projeto de Levi e equipe. Apesar de pouco mencionada,
apenas com tecnologias inovadoras as torres habitacionais de mais de 300 metros
de altura poderiam ser sustentadas naquele momento (Figura 6). Em cada torre,
um centro térreo garantia sua autonomia. Autônomo também seria o centro
administrativo, implantado junto ao lago. Nessa proposta, percebe-se a
importância do projeto arquitetônico na concepção urbana e a anunciação das
superestruturas como solução tecnológica para a cidade.
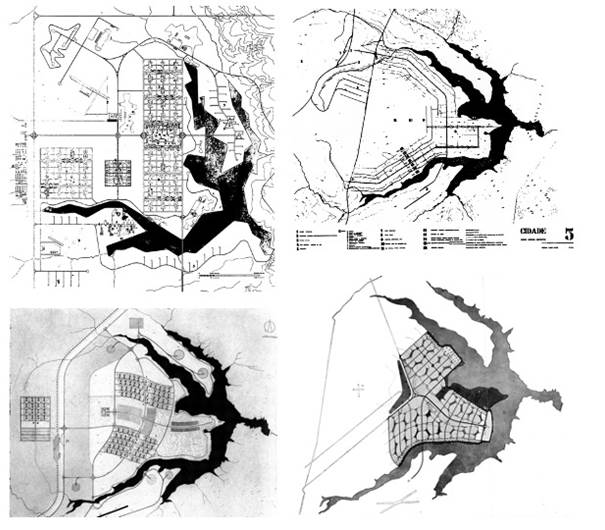
Figura 5. Propostas das equipes de Milmann e STAM (acima),
das equipes de Palanti e de Saraiva (abaixo). Tavares, 2014.
Se em Levi a simplicidade do
projeto urbano foi garantida pela sua verticalização, em outros o traçado
viário como estrutura da cidade buscou uma solução horizontalizada. No projeto
de Santos, por exemplo, a cidade foi sugerida como uma malha viária ortogonal,
hierarquizada tendo, junto ao lago, a demarcação do centro governamental (Figura
6). Em Schroeder, a nova capital reforçou os aspectos nacionalistas ao
representar, no traçado viário, a bandeira brasileira (Figura 6). Num modelo
fechado de cidade, o zoneamento substituiu qualquer forma de planejamento
futuro, e os equipamentos de infraestrutura urbana e as unidades habitacionais
ganharam destaque pelo seu posicionamento e relevância. Assim como ocorreu no
projeto de Kahir.
Landa e sua equipe propuseram um
projeto cuja matriz foi recorrente em outras propostas. Definindo um eixo
principal E-W e outros secundários no sentido N-S estruturou a cidade segundo a
necessidade de implantação dos serviços públicos (Figura 7). O projeto de
Costa, igualmente, partiu da leitura do sítio e da necessidade de um plano que
contemplasse o planejamento local em sua totalidade (Figura 7). Não abordou
diretamente as questões regionais ou territoriais, mas definiu um desenho
urbano, cujos elementos arquitetônicos e paisagísticos estão em pleno acordo
com o partido adotado. Uma cidade aberta, simétrica e definida por dois eixos
ortogonais.
Por fim, a maior evidência dessas
convergências e divergências ocorre entre três projetos: de Portinho (1936);
Lacombe, Reis e Firme (1955); e do próprio Costa (1957). Ambos apresentaram
implantações similares, não na morfologia do traçado, mas na interpretação do
sítio e na interlocução com os elementos naturais e com a disposição das
funções urbanas. A relação com o represamento das águas, a localização das
funções administrativas e residenciais, a valorização do cruzamento dos
principais eixos viários reforçaram um repertório técnico e estético. E
consolidou uma disciplina urbanística em diferentes campos de atuação dada a
diversificada origem profissional de cada um dos autores.
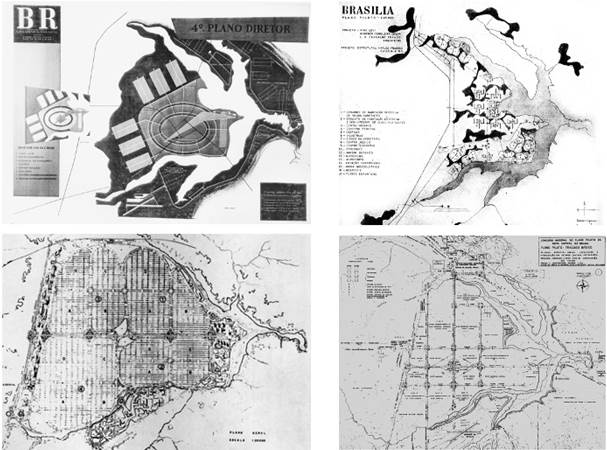
Figura 6. Propostas das equipes de Souza e de Levi (acima),
proposta de Santos e de Schroeder (abaixo). Tavares, 2014.
Com definições simples ou
complexas, restritas a planos locais ou regionais, o conjunto das soluções para
o tecido urbano é extenso. Elas guardam lógicas, desejos e ambições
diferenciadas, porém direcionadas a um único objetivo, o projeto de uma capital
federal. Esses ideais, por mais conflitantes que possam parecer quando da
comparação histórica, tornam-se coesos à luz de três principais elementos que
explicam esse processo de 30 anos de projetos: os projetos expuseram um
repertório atualizado à produção urbanística internacional, retomando conceitos
acadêmicos, vanguardistas e críticos; as referências e matrizes foram
incorporadas aos projetos sob uma adequação ao programa da nova capital e ao
contexto nacional, reinterpretadas a partir das necessidades locais; esse
processo foi conduzido, fundamentalmente a partir da inventividade autoral
definida em cada projeto. Ainda que um mesmo repertório fosse instrumentalizado
a um único objeto –a capital federal–, os resultados variaram em função das
peculiaridades atribuídas por cada autor, ou equipe de autores. E essa é a
unidade do conjunto.
Em certo momento as análises das
propostas soam anacrônicas em articular experiências e conhecimentos tão
distintos, entretanto essa dualidade segue a ordem dialética nacional, em que a
ordenação de um extenso e híbrido campo de conhecimentos desvenda um fazer
urbanístico a partir da concepção da nova capital. Assim os projetos denotam a
concepção de uma cidade ideal por seus espaços disciplinados e modernizantes,
ao mesmo tempo democráticos e agregadores. A cidade é compreendida como um
projeto único, fruto de planejamento e previsões, de certezas científicas e
crença na transformação da sociedade pelo urbanismo. O ponto alto de uma
parábola matemática que, nas décadas seguintes, passou à inflexão diante dos
impasses do mundo contemporâneo.
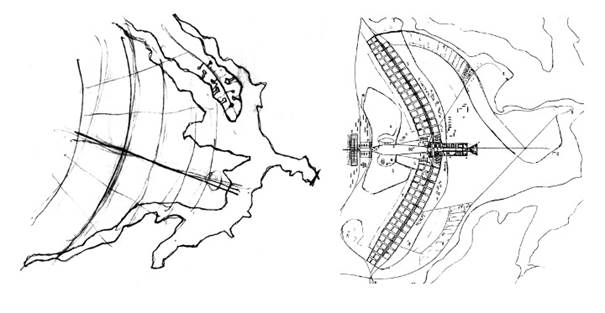
Figura 7. Proposta da equipe de Landa e proposta de Costa.
Tavares, 2014.
Crítica e historiografia: leituras em disputas e o traço
comum aos projetos
A crítica aos projetos de
Brasília, especialmente ao projeto vencedor de Lúcio Costa, foi recorrente. Foi
precedida pela disputa entre os Mudancistas e os Fiquistas que discutiam a
prioridade ou não da mudança da capital federal do Rio de Janeiro-RJ para um
novo Distrito Federal na região Centro-Oeste do país. E o debate teve no
político Carlos Lacerda (líder do partido União Democrática Nacional [UDN], e
opositor de Juscelino Kubistchek) a principal liderança pelas denúncias de
corrupção e altos gastos públicos. No campo da crítica do urbanismo, das artes
e da arquitetura, o Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de Artes
realizado em 1959 (nas cidades de São Paulo-SP, Rio de Janeiro-RJ e de
Brasília-DF com construções não finalizadas) foi um marco internacional.
Organizado pelo crítico brasileiro Mário Pedrosa, o tema central foi Cidade
Nova - A Síntese das Artes.
No congresso, Bruno Zevi
destacou-se pela crítica ao plano piloto da nova capital considerando-o uma
reprodução dos princípios modernistas e, por isso, anacrônico aos anseios da
sociedade contemporânea (Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de
Arte, 1959, pp. 20-23). A essas críticas sucederam as análises de Francisco de
Paula Dias de Andrade (Andrade, 1961) com uma abordagem pioneira sobra a nova
capital. Uma cidade sem alma, inóspita, sem esquina, que não proporciona a
casualidade e poderia ser culpada pelas doenças mentais de seus moradores. Suas
críticas –assim como as de Zevi– foram incorporadas pelo senso comum e
reproduzidas por estudiosos, especialistas e veículos de imprensa de massa de
forma genérica.
A historiografia, por sua vez,
buscou reconstruir a trajetória do planejamento e do urbanismo seminais da
capital federal pela história de Brasília. Sobre o projeto de Lúcio Costa,
foram identificadas a hegemonia do racionalismo técnico, dos princípios internacionais
dos CIAM’s e das matrizes europeias (Ficher, 1999, pp. 230-239; Scherer, 1978;
Leme, 1999, pp. 20-38) e uma diversidade ímpar que compõe as referências
urbanísticas (Gorovitz,1985). Segawa (1998) também ressalta as premências
modernistas, mas lembra das referências históricas mencionadas pelo próprio
Costa (a torre de comunicações, as técnicas milenares chinesas, as vielas
venezianas, as loggias, Piccadilly Circus, Times Square, Champs
Elysées e a Rua do Ouvidor). Yves Bruand (1981) destaca o projeto para
Brasília como a “apoteose do urbanismo brasileiro” reconhecendo a cultura
clássica renascentista dos teóricos italianos Alberti, Filarete e Scamozz no
projeto de Lúcio Costa.
A primeira análise do conjunto do
concurso é de Norma Evenson (1973), na qual avalia os sete projetos finalistas
insistindo no ideário moderno como principal chave para a compreensão dos
projetos. Yves Bruand (1981) também analisa os concorrentes com ênfase nos
finalistas e na reprodução dos argumentos do júri. Milton Braga (1999) retoma
uma análise aprofundada sobre os finalistas identificando as peculiaridades de
cada proposta à luz –e com destaque– da influência do edital nas soluções
apresentadas. Antonio Carlos Cabral Carpintero (1998) também havia promovido
leitura similar destacando alguns planos não classificados. E a exposição Brasil
1920 a 1950. Del Manifiesto Antropofágico a Brasilia, realizada em
Valência, em 2000, correlaciona os projetos finalistas à trajetória cultural
entre as décadas de 1920 e 1950 (Schwartz, 2002).
O catálogo Brasília: trilha
aberta (Governo do Distrito Federal, 1986), derivado da exposição em homenagem
ao 10o aniversário da morte de Juscelino Kubitschek, reuniu pioneiramente
imagens de 13 projetos (incluindo o de T. F. de Almeida, de 1929, e alguns
projetos apresentados no concurso). O catálogo foi seguido pelo estudo de Aline
Moraes Costa (2002) que ratifica as leituras precedentes da hegemonia
modernista nos projetos. A esses estudos seguiram publicações sobre a
arquitetura e o urbanismo (modernistas) nacionais reforçando substancialmente o
papel dos projetos do concurso como propagadores dos modelos internacionais e,
sobretudo, modernos (Bastos, Zein, 2010) resguardando suas relações com a
cultura nacional dos anos cinquenta (Wisnik, 2004, pp. 20-55).
Uma segunda vertente de estudos
vinculados à história da cidade e do urbanismo apresentou, cronologicamente
concomitante a essas análises, uma revisão a respeito dos projetos. Ficher,
Batista, Leitão e França (2003, s.p.) recuperam a diversidade de matrizes e
referências das propostas concorrentes no concurso apresentando uma leitura
atualizada sobre os participantes. Tavares (2000; 2004; 2014) ampliou a análise
para o conjunto dos projetos, incluindo os antecedentes. Inseridos numa nova
geração de pesquisadores, sobretudo relacionados a estudiosos e moradores de
Brasília, essas posições apontam para a necessidade da desnaturalização das
leituras hegemônicas, o questionamento das posições historiográficas, a
valorização das fontes primárias, o descortinamento das motivações ideológicas
que determinaram as leituras vigentes e a incorporação da crítica, do aspecto
cultural, técnico e social pela perspectiva histórica. Esse caráter
revisionista busca dar foco aos fatos e fenômenos pouco evidenciados e, para o
caso do concurso, inseri-lo num arco histórico mais amplo identificando seu fio
lógico.
E com produções mais específicas,
Tavares (2003), Sanches e Tavares (2010), Quintanilha (2022), por exemplo,
recuperam planos e trajetórias dos autores inserindo-os no panorama nacional e
internacional das referências urbanísticas. Essas reflexões optam pelo
aprofundamento do debate e pelo destaque das particularidades colaborando para
uma visão do mosaico que constituiu Brasília, distinta da visão de Brasília
como um bloco homogêneo. E os diálogos se ramificam por uma vertente inovadora
que não está delimitada ao período circunscrito do concurso, avançando por meio
de autores e grupos de autores (Holanda, 2002; Leitão, 2009; Brito, 2010),
antologias (Xavier, Katinsky, 2012; Fricová, 2017), pesquisas históricas
(Dernt, 2019), exercícios experimentais (Lassance, Saboia, Pescatori, Capillé,
2021) e crítica (Gorelik, 2021; Sobral Anelli, Koury, 2023) com leituras
contemporâneas sobre o(s) plano(s) na cidade, na metrópole, na região e na
história.
A partir desses estudos, foi
possível aprofundar no repertório de soluções técnicas, no debate crítico da
modernidade e no reconhecimento do estreito círculo profissional, das poucas
escolas profissionais e das instituições de classe que permitiram a circulação
de ideias que influenciou a maior parte das soluções propostas. Assim, para
além da história dos vencedores, é possível identificar um traço comum dentro
da diversidade dialética que marca a totalidade dos projetos.
A incorporação dos fatores
técnicos a princípios estéticos resultou em soluções baseadas na valorização da
topografia como base para a implantação das redes e sistemas que estruturam a
cidade. A ligação entre o ponto mais alto do sítio às bordas do lago permitia a
instalação das redes de saneamento e a criação de um grande vetor de redes
técnicas, como de circulação, distribuição de água, afastamento de resíduos,
etc. A criação de uma faixa arqueada seguindo as curvas de nível da topografia
e, portanto, quase ortogonal ao vetor principal permitia a implantação do maior
adensamento de edificações sem grandes movimentos de terra. Assim, os dois
eixos E-W e N-S responderiam com simplicidade técnica e valorização estética às
condições do sítio e à demanda de uma infraestrutura urbana compondo um símbolo
federal.
Essas soluções resultaram em
implantações ou traçados muito similares entre os concorrentes, afinal os
autores dispunham de um repertório formal em comum e buscavam soluções para um
mesmo problema diante de um mesmo sítio geográfico. A célebre solução do
traçado da cidade baseado em dois eixos ortogonais principais utilizada por
Lúcio Costa foi repetida pelos seus colegas concorrentes com maior ou menor
evidência por representar a forma mais natural e tecnicamente lógica para se
resolver serviços básicos. O sítio relativamente plano e a conformação em arco
insinuada pelo lago e pelas curvas de nível permitiram liberdades formais que
possibilitaram variações a partir dessa solução. Esse traço comum na
implantação da cidade, sem afetar a diversidade das referências, confirma uma
coerência do conjunto dos projetos que, como veremos a seguir, colabora na
síntese dos aspectos culturais da identidade nacional.
Conclusões: projetos dialéticos
Porque abordar os projetos para a
nova capital a partir de seus referenciais? Primeiramente, porque essa
abordagem proporciona desvendar as particularidades de cada proposta e, em
segundo lugar, porque essa abordagem confere uma análise sobre o papel da disciplina
urbanística e arquitetônica na formulação de um projeto de nação. Ao analisar a
totalidade dos projetos é possível compreender melhor a cidade de Brasília, sua
trajetória e sua vocação urbanística desvendando seu papel na cultura nacional
pelo planejamento urbano e regional.
As transformações sociais,
econômicas e artísticas desse período definiram alguns conceitos predominantes,
como a evidência da industrialização do país, a sua integração territorial e a
oposição aos problemas urbanos decorrentes da não adaptação das cidades face ao
êxodo rural. Esses catalisadores sociais provocaram, no conjunto dos planos,
uma enfática postura em negar os padrões vigentes dos grandes centros. Não
foram poucas as vezes em que as propostas assumiram um papel contestador aos
modelos consolidados usando da oportunidade de concepção da nova capital como
instrumento para provar novas propostas e teorias.
No geral, a crença no
planejamento urbano como forma de transformar a sociedade vigorou em algumas
décadas anteriores, mas nos anos 1950 essa mentalidade tomou grandes
proporções. Talvez um dos fatores responsáveis tenha sido a forte presença
política dos arquitetos e urbanistas no cenário das discussões sociais fazendo
par ao lado das autoridades nacionais como prefeitos, governadores e
presidentes. Nesse período foi comum pensar a cidade como um organismo
completo, cujo planejamento exigia desde a macro definição de seus setores até
a quantificação e localização de armarinhos, barbearias e padarias numa escala
micro de planejamento. E essas definições, na sua maioria, eram propostas
segundo uma forte conotação social na qual prevalecia a busca da igualdade para
todas as classes sociais.
Condição que nos permite enunciar
duas suposições. A primeira leva em conta as intenções e soluções dadas por
cada projeto para os problemas identificados e para as peculiaridades do sítio,
portanto expõe com clareza a existência de diferentes matrizes a partir de uma
mesma condição, com lógicas e partidos projetuais distintos entre si, quando
não contraditórios. A segunda decorre da compreensão pelo conjunto que permite
registrar as diferentes matrizes, mas também os pontos em comum na diversidade.
Ambas as suposições possibilitam justificá-los (os projetos) pela dialética,
seja na lógica interna de cada projeto, seja no conjunto, onde aparecem as
contradições entre os localismos e cosmopolitismos, nacionais e estrangeiros,
acadêmicos e vanguardistas. Comprova, portanto, a perspectiva análoga à de
Antonio Candido da consolidação de um símbolo nacional por expressar e reforçar
as principais características da sua modernidade.
Então, não nos parece, diante da
análise de todos os projetos existentes para Brasília, que haja a certeza do
predomínio de um urbanismo estritamente racional, vinculado a uma única postura
internacional. Há, porém, a certeza da solidificação de um ideário urbanístico
nacional ao longo do século XX confluindo nas cinco primeiras décadas para um
repertório comum e abrangente no meio profissional, responsável pela condução
de um modo peculiar do urbanismo brasileiro. E que se propagará de forma ora
instrumentalizada, ora crítica na construção das cidades brasileiras.
O projeto vencedor, talvez, seja
a grande evidência dessa postura. Para além dos argumentos do júri de uma
proposta simples e exequível, ao nosso ver o que garantiu a primeira colocação
ao projeto de Lúcio Costa tenha sido o fato de que este seja o projeto que
explorou com maior força essa dialética. Não se trata, aqui, de legitimação da
decisão dos membros do júri, mas do reconhecimento do argumento do arquiteto
que os convenceu. Porque, de forma sublime e radicalmente dualista, afirmou um
modo de fazer arquitetura e urbanismo condizente à cultura urbanística nacional
do seu período. E contribuiu para a identidade nacional a partir da sua
expressão dialética ao equilibrar o caráter histórico ao debate vanguardista;
contrapondo o local ao internacional; apropriando-se de soluções acadêmicas,
bem como da atualização técnica e estética. E o próprio traçado da cidade
sintetiza essa dialética pelo diálogo entre os opostos. Dois eixos contrapostos
sobre os quais se estruturam a cidade e sua força simbólica de capital federal,
sempre tensionados funcionalmente, mas buscando um equilíbrio formal. E talvez
por essa singularidade, Lúcio Costa assinou o projeto com seu nome por extenso
encerrando, enfim, a prática que até então mantinha de subscrever seus
trabalhos apenas com as iniciais L.C., como fazia Le Corbusier. Assim, afirmava
não só a autoria do projeto, mas a autenticidade da sua trajetória.
Esse radicalismo respondeu com
clareza aos aspectos da formação nacional expressos no processo de
transferência da capital político-administrativa ao longo de aproximadamente 60
anos, nos quais se formulou um projeto de nação. Por isso a importância de sua
consolidação como centro geográfico e equidistante das demais capitais
estaduais; estratégia regional de desenvolvimento do interior do país; fato
geopolítico; estrutura urbana para sediar funções político-administrativas;
exemplar da modernidade (muito mais que do modernismo); e lugar de novas formas
de moradia, de vida pública e privada. Aspectos que se confrontam com as
dinâmicas migratórias que sua construção ensejou, com a repressão sobre os
trabalhadores da sua obra, com os impactos ambientais decorrentes de sua
implantação e com a descontrolada metropolização marcada pela segregação social
e pelas desigualdades regionais entre plano piloto e cidades-satélites.
A identidade nacional com a
qual Brasília colabora para sua consolidação assenta-se sobre uma base
extremamente conflituosa e contraditória que não é exclusividade de Brasília,
mas das cidades brasileiras. E por isso Brasília não é uma metáfora, mas parte
organicamente amalgamada do processo de urbanização latino-americano. É ela
própria a contradição que a partir da dialética busca diálogos nos opostos. Uma
esplanada de 2,5 km liga o burburinho informal da plataforma rodoviária à
formalidade da Praça dos 3 Poderes. Foi esse desenho que –nas palavras do seu
autor– buscou conciliar o sonho arquissecular aos ideais contemporâneos de uma
cidade. E que aponta para leste abrindo-se para as águas do lago Paranoá
saudosa do litoral por onde se iniciou a urbanização brasileira, insumo e base
desses antagonismos.
O presente artigo relaciona-se aos seguintes projetos de
pesquisa:
Processo 2022/01583-9. Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)
Processo 307498/2023-9. CNPq,
Modalidade PQ, Nível
Referências
Albuquerque, J. P. C. de. (1958). Nova Metrópole do
Brasil (Relatório Geral de sua localização). SMG, Imprensa do Exército.
Almeida, T. F. (30 de maio de 1930). Ideal em Marcha -
Brasília: A Cidade Histórica da América. A Ordem.
Andrade, F.
de P. D. de. (1961). A Organização do espaço e do tempo em Brasília.
[Tese de Livre Docência não publicada]. Escola Politécnica, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Arquitetura e Engenharia (1956), 41, s.p.
Bastos, M. A. J. e Zein, R. V. (2010). Brasil:
arquiteturas após 1950. Perspectiva.
Braga, M. L. A. (1999). O Concurso de Brasília: Os 7
Projetos Premiados. [Dissertação de Mestrado não publicada]. Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo.
Brasil. (1956). Edital para o Concurso Nacional para o
Plano Piloto da Nova Capital do Brasil. Acervo NOVACAP.
Brito, J. D. de. (2010). De plano piloto a metrópole:
a mancha urbana de Brasília. Ed. do Autor.
Bruand, Y. (1981). Arquitetura contemporânea
brasileira. Perspectiva.
Camargo, J. G. da C. (1957). Brasília - Plano Piloto.
Acervo particular.
Candido, A. (1980). Literatura e Sociedade: estudos de
teoria e história literária. Nacional.
Carpintero, A. C. C. (1998). Brasília, prática
e teoria urbanística no Brasil 1956 – 1998. [Dissertação de Mestrado não
publicada]. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo.
Cascaldi, C., Artigas, V., Cunha, M.
W. V. da, Almeida, P. de C. (1957). Futura
Capital Federal – Brasília. Acervo particular.
Comissão de Estudos para Localização da Nova Capital do
Brasil. (1948). Relatório Técnico.
Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de
Arte, Brasília-São Paulo-Rio de Janeiro (1959).
Anais.
Costa, A. M. (2002). (Im)Possíveis Brasílias – os
projetos apresentados no concurso do plano piloto da nova capital federal.
[Dissertação de Mestrado]. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas,
Universidade de Campinas. https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/257480
Costa, L. (1991). Plano Piloto para Brasília. In L.
Costa. Brasília, cidade que inventei.
Costa, L. (1995). Registro de uma Vivência.
Empresa das Artes/UnB.
Cruls, L. (1894). Relatório da Comissão Exploradora do
Planalto Central do Brasil. H. Lombarts & C.
Derntl, M. F. (2019). Brasília e seu território: a
assimilação de princípios do planejamento inglês aos planos iniciais de
cidades-satélites. Cadernos Metrópole, 22(47), 123–146. https://doi.org/10.1590/2236-9996.2020-4706
Dias, R. L., Arantes, B. e Luna, H. de. (1957). Plano
Piloto para a Futura Capital do Brasil. EPUC - Engenharia Arquitetura,
4.
Donald J. Belcher and Associates. (1957). O
relatório técnico sobre a nova capital da república. Imprensa
Nacional.
Evenson, N. (1973). Two Brazilian
Capitals. Architecture and Urbanism in Rio de Janeiro and Brasília.
Yale University Press.
Ficher, S., Batista, G. N., Leitão, F., França, D. A. de.
(2003). Brasília: Uma História de Planejamento. In ANPUR, X Encontro
Nacional da ANPUR. Belo Horizonte: ANPUR, s.p.
Ficher, S. (1999). Brasília e Seu Plano Piloto. In M. C.
S Leme. Urbanismo no Brasil 1895-1965 (pp. 230-239). FUPAM, Studio
Nobel.
Escolhido o plano-piloto que norteará a construção de
Brasília (16 de março de 1957). Folha da Manhã.
Fricová, Y. (Ed.). (2017). Brasília - Mesto Sen.
Titanic.
Ghiraldini, M. (1957). Plano Piloto para Brasília.
Habitat Editôra Ltda.
Gorelik, A. (2021). Brasília no espelho do planejamento. Paranoá,
14(29). https://doi.org/10.18830/issn.1679-0944.n29.2021.04
Gorovitz, M. (1985). Brasília, uma questão de escala.
Projeto.
Governo do Distrito Federal. (1986). Brasília:
trilha aberta, Brasília. GDF.
Guedes, J. (1972). Considerações sobre o Planejamento
Urbano – A Proposta de Plano de Ação Imediata de porto Velho [Tese de
Doutoramento não publicada]. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade
de São Paulo.
Guimarães, P. P. (1957). Plano Piloto da Nova Capital
do Brasil. Acervo particular.
Holanda, F. de. (2002). O espaço de exceção.
Editora Universidade de Brasília.
Landa, H. O. Depoimento concedido para Jeferson Cristiano
Tavares, Rio de Janeiro, 26 de julho de 2001.
Lassance, G., Saboia, L.,
Pescatori, C., Capillé, C. (2021). Cidade pós-compacta: estratégias de
projeto a partir de Brasília = Post-compact city: design strategies from
Brasilia. Rio Books.
Le Corbusier. (1989). Carta
de Atenas (Trad. por Rebeca Scherer). Edusp.
Le Corbusier. (1989). Le Corbusier (Direção de
Maria Irene Szmrecsányi e tradução de Rebeca Scherer). S.e.
Leitão, F. (Org.). (2009). Brasília 1960-2010:
presente, passado e futuro. Brasília: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.
Leme, M. C. da S. (Org.). (1999). Urbanismo no Brasil
1895-1965. FUPAN, Studio Nobel.
Levi, R., Cerqueira, R., Franco, L. R. C. (1957). Brasília
– Plano Piloto – Relatório Justificativo. Acervo FAU-USP.
Lopes, L. C. (1996). Brasília – O Enigma da Esfinge: A
construção e os bastidores do poder. Ed. Unisinos, Edidora Da Universidade
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul).
Machado, J. (1948). Porque, Para Onde e Como Mudar a
Capital da República. Jornal do Comércio.
Martins, C. F. (1992). Identidade nacional e Estado no
Projeto Modernista – Modernidade, Estado e Tradição. Óculum, 02, 71-76.
Milmann, B., Rocha, J. H. e Gonçalves, N. F. (1957). Plano
Piloto da Nova Capital. Acervo da NOVACAP.
Módulo, (1957). 8.
Moreira, V. M. L. Brasília: a construção da
nacionalidade; dilema, estratégias e projetos sociais (1956-1961). (1998).
[Tese de Doutorado não publicada]. Faculdade de Filosofia, de Letras e Ciências
Humanas, Universidade de São Paulo.
Mumford, E. (2009). Defining Urban
Design: CIAM Architects and the Formation of a Discipline, 1937-69. Yale
University Press.
Palanti, G.; Mindlin, H. E. (1957). Brasília
– Plano Piloto. Acervo particular.
Pimenta, J. A. de M. (1926). Para a Remodelação do Rio
de Janeiro. Impresso.
Pompéia, J. D. Depoimento concedido para Jeferson
Cristiano Tavares, São Paulo, 16 de julho de 2002.
Portinho, C. Depoimento concedido para Maria Ruth Sampaio
e Nabil Bonduki, Rio de Janeiro, 18 de julho de 1997.
Portinho, C. (1939a). Ante-projeto para a futura capital
do Brasil no Planalto Central. Revista Municipal de Engenharia, 2(IV),
153-162.
Portinho, C. (1939b). Ante-projeto para a futura capital
do Brasil no Planalto Central. Revista Municipal de Engenharia, 2/3(IV),
285-296.
Quintanilha, R. P. (2022). O
plano no. 12: uma leitura sobre o plano do grupo STAM para a Nova Capital
Federal do Brasil. Risco Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo (online),
20, 1-24. https://www.revistas.usp.br/risco/article/view/190709/186693
Ribeiro, J. O. S. (1957a). Planta do Projeto para a Nova
Capital. Acervo particular.
Ribeiro, P. A. (1957b). Voto Separado de Paulo Antunes
Ribeiro. Arquivo NOVACAP.
Roberto, M. (1957). Plano Piloto da Nova Capital. Arquitetura e Engenharia, 45, 5-30.
Sanches, A. C. e Tavares, J.
(2010). Masterplan no. 24:
Reflections on a proposal to Brasilia. Risco
Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo (online), 11, 15-30. https://www.revistas.usp.br/risco/article/view/44789
Saraiva, P. P. de M. e Neves, J. J. F. (1957). Plano
Piloto da Nova Capital. Acervo particular.
Scherer, R. (1978). O urbanismo racionalista e o
projeto do Plano Piloto de Brasília. [Dissertação de Mestrado não
publicada]. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo.
Schroeder, R. B. P. de B. (1957). Plano Piloto da Nova
Capital. Acervo particular.
Schwartz, J. (2002). Brasil 1920 a 1950. Del
Manifiesto Antropofágico a Brasilia. Cosac & Naify.
Segawa, H. (1998). Arquitetura no Brasil - 1900-1990.
Edusp.
Silva, E. (s. d.). História de Brasília. Editora Coordenada.
Sitte, C. (1889). A Construção das Cidades Segundo
Seus Princípios Artísticos. Ática. 1992.
Sobral Anelli, R. L. y Koury, A. P. (2023). Aprendendo
com Brasília: padrões de desenvolvimento, urbanismo e urbanidade para a
integração entre cidade e natureza no século XXI. Registros. Revista De
Investigación Histórica,19(2), 112–131. http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s22508112/620ajkra5
Souza, E. R. e Vieitas, R. da S. (1957). Plano Piloto
para Brasília. Acervo particular.
Tavares, J. C. (2000). Concurso para o Plano Piloto de
Brasília – Levantamento e Análise dos Projetos Urbanísticos.
[Relatório Final de Iniciação Científica não publicado]. Departamento de
Arquitetura e Urbanismo, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de
São Paulo.
Tavares, J. C. (2003). Projetos
para Brasília - Estudo de Caso de Planejamento Urbano para Nova Capital: O
Projeto de Pedro Paulino Guimarães e Equipe. Anais do X ENANPUR.
Tavares, J. C. (2004). Projetos para Brasília: e a
cultura urbanística nacional. [Dissertação de Mestrado]. Departamento de
Arquitetura e Urbanismo, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de
São Paulo. https://doi.org/10.11606/D.18.2004.tde-23092008-111353
Tavares, J. C. (2014). Projetos para Brasília,
1927-1957. IPHAN.
Tyrwhitt, J.; Sert, J. L.; Rogers, E. N.
(1952). The Heart of the City: towards the humanisation of urban life. Lund
Humphries.
Varnhagen, F. A. (1978). A
questão da capital: marítima ou interior (3a edição). Thesaurus.
Vitor, E. D. (1980). História
de Brasília. Thesaurus.
Xavier, A. e Katinsky, J.
(Orgs). (2012). Brasília – antologia crítica. São Paulo: Cosac Naify.
Wilheim, J. (1957). Plano
Piloto para a Nova Capital do Brasil, Acervo particular.
Wisnik, G. (2004). Doomed to Modernity.
In E. Andreoli e A. Forty (Org.), Brazil Modern Architecture (pp.
22-55). Phaidon Press Limited.
Jeferson Tavares
Doutor em
Arquitetura e Urbanismo. Coordenador Nacional do Laboratório de Experiências
Urbanísticas e Líder do Grupo de Pesquisa e Extensão PExURB. Instituto de
Arquitetura e Urbanismo - Universidade de São Paulo (IAU-USP). Av. Trabalhador
Sancarlense, 400. São Carlos-SP, Brasil.
jctavares@usp.br
https://orcid.org/0000-0003-2482-0380